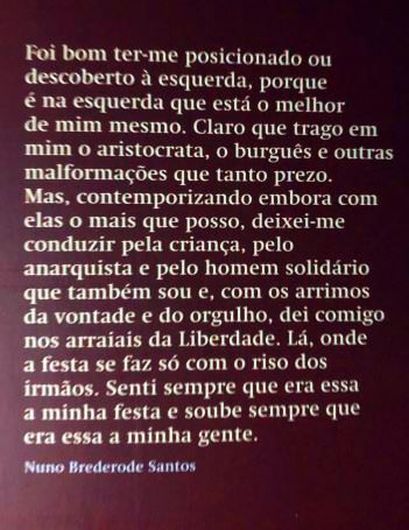«Em 2017, oito alunos de história do 12.º ano do Liceu Camões aceitaram falar com o DN sobre a forma como viam o passado imperial e colonial português. Para estranheza da própria professora, a maioria reproduziu o mito de que Portugal foi pioneiro na abolição da escravatura, em 1761 (altura em que foi abolida a escravatura apenas no território de Portugal "metropolitano" e mesmo assim não completamente). Do mesmo modo, quando questionados sobre o que sucedera aos escravos depois de em 1869 se ter dado a oficial abolição da escravatura em todos os territórios nacionais, muitos ficaram interditos. Um afirmou: "Então, deram-lhes o estatuto igual aos das outras pessoas."
Não é espantoso. A maioria esmagadora dos portugueses, atrevo-me a dizer - eis uma sondagem que gostava de ver - continua a achar que "fomos os primeiros a abolir" e desconhece totalmente o facto de à escravatura dos negros se ter seguido o trabalho forçado, só formalmente abolido em 1962. Essa realidade do trabalho forçado, que em pouco se distinguia da escravatura, atravessou o final do século XIX, a Primeira República e praticamente todo o Estado Novo. Nas leis, os negros classificados como "indígenas", ou seja a maioria da população de Moçambique, Angola e Guiné, eram excluídos da cidadania e tratados como sub-humanos - constatação que o próprio regime salazarista fez através dos seus documentos internos, como demonstra o historiador José Pedro Monteiro em Portugal e a questão do trabalho forçado (Edições 70, 2018).
A esmagadora maioria dos portugueses, dizia, desconhece estes factos, e desconhece-os não porque eles não estejam amplamente estudados por gerações de historiadores e investigadores académicos, com vasta obra publicada sobre a matéria, mas porque disso pouco tem passado quer para a discussão pública quer, o que é fundamental, para aquilo que se aprende na escola e se lê nos manuais do ensino básico e secundário. E não passa porque haja uma determinação consciente e malévola de mentir, mas porque coletivamente nos apegámos à mistificação.
O problema não é, ao contrário do que se possa crer, exclusivo de pessoas "pouco cultas". Ainda há poucos meses um reputado constitucionalista português me asseverava que o "nosso" regime colonial não foi racista. Quando lhe retorqui com alguns factos básicos - nomeadamente a instituição do trabalho forçado e a lei do indigenato - respondeu-me "era assim também nos outros países". Só ficou sem argumentos quando lhe lembrei que data de 1930 a convenção da Organização Internacional do Trabalho - só ratificada por Portugal em 1956, com prazo de cinco anos para aplicação - obrigando os signatários a acabar com o trabalho forçado no mais curto prazo possível, e que os próprios relatórios dos funcionários coloniais portugueses comparavam, até ao final dos anos 1950, a realidade do trabalho forçado à da escravatura, descrevendo castigos corporais com chicote e grilhetas e chegando a dizer que o primeiro era pior que a segunda, já que nesta ao menos o dono não estava interessado em matar o escravo já que pagara por ele, enquanto no trabalho forçado tanto lhe fazia: se morria pedia outro.
A ideia de que "não se pode olhar para a realidade do passado com os olhos de hoje", tão usada a propósito da história imperial e colonial portuguesa, soçobra perante a evidência de que estamos também a falar de coisas que se passaram há menos de 100 anos, quando outros países ocidentais já tinham iniciado a descolonização e quando eram muitas as vozes, inclusive em Portugal e nas colónias, a criticar - e a lutar contra - o que se passava. Muitos dos olhos de então já olhavam aquela realidade como a olhamos hoje, como iníqua, ilegítima e brutal.
E sim, vem todo este grande intróito a propósito do discurso de Marcelo neste 25 de abril - um discurso notável, talvez o melhor que já lhe ouvi, e no qual teve a inteligência de sublinhar a sua condição de filho do último ministro das Colónias e de um dos últimos governadores de Moçambique, testemunha privilegiada (em vários sentidos) do ocaso do império e da ditadura colonial.
Esta assunção da sua condição pessoal - que aliás repetiria a seguir num encontro com capitães de Abril e jovens, no qual também fez um discurso muitíssimo interessante - tem um propósito mais ou menos claro: o de demonstrar, e bem, que o 25 de Abril é simultaneamente rutura e continuidade. Como ele, filho de um alto dignitário da ditadura que faria parte da Assembleia Constituinte de 1975 e acabaria duas vezes eleito presidente da democracia, os militares que fizeram o golpe "não vieram de outras galáxias, nem surgiram num ápice daquela madrugada para fazerem história. Traziam já consigo a sua história." E a sua história eram "as suas comissões em África, uma, duas, três, até quatro, (...) tudo em situações em que a linha que separa o viver ou morrer é muito ténue."
Eram pois os soldados do regime colonial, algozes, ocupantes, matadores, até serem os heróis da libertação. Sabemo-lo, ou devemos sabê-lo - mas saberá Marcelo distinguir entre quem retirou dessa experiência a deliberação de acabar com ela e quem, como Marcelino da Mata, a cujo enterro foi há meses como presidente, ou seja em nome de todos nós, se gabava dos seus crimes nessa guerra e louvava a ditadura?
É que esse é o problema: distinguir. E Marcelo, como a maioria esmagadora dos políticos da democracia, sejam como ele filhos de homens da ditadura ou como António Costa de oposicionistas, têm mostrado dificuldade nessa distinção e nesse olhar para trás, na capacidade de traçar a linha entre o que é admissível e até celebrável e o que deve ser censurado - porque é preciso dizer que houve coisas censuráveis e criminosas, por mais que tenham feito parte de um contexto.
Daí que seja tão bem-vinda a exortação do presidente para "que se faça história, história da história, que se tirem lições de uma e de outra, sem temores sem complexos", o reconhecimento de que "é prioritário estudar o passado e nele dissecar tudo, o que houve de bom e o que houve de mau. (...) Que saibamos fazer dessa história lição de presente e de futuro. Sem álibis nem omissões (...)."
É isso mesmo. Ou seria, se a seguir não acrescentasse: "É prioritário assumir tudo, todo esse passado, sem autojustificações ou autocontemplações globais indevidas nem autoflagelações globais excessivas (...) nem apoucamentos injustificados." É de novo a preocupação com "a visão auto flageladora da nossa história" que vimos recentemente em António Costa, preocupação extraordinária num país que até hoje se encarniça em negar "o que houve de mau" ou chega mesmo a celebrá-lo; preocupação contraditória num discurso presidencial que nos diz que temos de olhar a história também "pelo olhar dos colonizados".
Olharmo-nos pelo olhar dos "descobertos", dos submetidos, dos colonizados e dos seus descendentes não é só dizer que "nunca houve um Portugal perfeito" - a melhor frase do discurso do presidente. É sobretudo reconhecer o que desse passado mais que imperfeito resta em nós como país, denunciá-lo e combatê-lo. Aquilo, suspeito, a que Marcelo chama "excesso".»
.