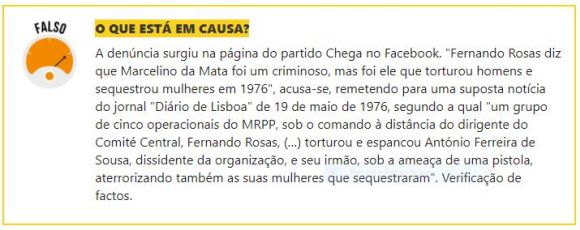«O “cancelamento” de figuras públicas por causa de opiniões consideradas menos corretas é muito popular nos Estados Unidos. Ondas de julgadores usam as redes sociais e o espaço público para banirem alguém por alguma coisa que disse ou defendeu, obrigando-o a ceder, a mudar de posição ou a fingir que mudou. Ou a calar-se. A conversa é mais difícil do que parece. Qualquer pessoa tem o direito a reagir a uma opinião que lhe desagrada ou repugna. A democracia vive disso. Quando isso passa a ser viral os efeitos podem ser devastadores. E, no entanto, cada um dos que reage não faz mais do que usar a sua liberdade de expressão. Cabe-lhe distinguir se participa num linchamento que serve para criar medo de falar ou num debate livre com contraditório.
Também não é indiferente a função da pessoa que é contestada. Se for alguém que ocupa um cargo de relevância política, o escrutínio das suas opiniões é inerente à sua função. Exigir que as pessoas não avaliem as suas opiniões é querer amputar a democracia de conteúdo. Os políticos não são meros gestores. O que pensam e dizem conta. É o que mais conta, aliás.
Para se vitimizarem, sectores mais conservadores da nossa sociedade importaram de forma bastante amplificada as dores das vítimas da cultura de cancelamento nos EUA. Mas basta passear pelas redes sociais para perceber como o debate é um pouco deslocado. Sim, há uma cultura de trincheira que se instalou em todo o lado, onde a persuasão foi substituída pelo julgamento, a opinião livre pelo tribalismo e o argumento pelo insulto. À esquerda e à direita. Mas, tirando em alguns nichos no Twitter e alguns artigos de jornais, o “politicamente correto” é um produto gourmet de consumo limitado em Portugal. Mesmo na Academia, é quase irrelevante. Se há madraças políticas neste país, são as faculdades de economia, onde pontos de vista ideológicos são impostos como se de ciência exata se tratasse. Ainda recentemente tivemos sinais da dificuldade que essas faculdades têm em ver o seu nome associado à livre expressão do pluralismo.
Na semana passada, os mártires do “politicamente correto”, com posição hegemónica no espaço de opinião, dedicaram-se a rasgar as vestes por causa do escrutínio a posições que o novo presidente do Tribunal Constitucional deixou escritas sobre assuntos de relevância constitucional. Não escrevi sobre o tema porque nem ele me aquece muito nem, no início, achei que um artigo escrito há onze anos tivesse relevância suficiente. Quando todos os artigos surgiram ficou evidente um padrão de opinião. Legitima e livre, mas nem por isso irrelevante quando tem relação com o cargo que o jurista agora ocupa. Respeitar a liberdade de expressão não é tornar as opiniões inconsequentes. Isso é, aliás, desrespeitá-la. Quando são públicas e se relacionam com a função num determinado cargo público, devem ser debatidas e escrutinadas.
Enquanto as supostas vítimas do “politicamente correto” se queixam de qualquer crítica feita em qualquer rede social, sem qualquer consequência que não seja a legítima manifestação de discordância de cada um, acontecem coisas realmente graves neste país. Verdadeiras tentativas de cancelamento, mas em versão musculada.
Trinta mil pessoas assinaram uma petição, que levarão ao Parlamento, propondo a deportação de um cidadão português por ter chamado criminoso de guerra a Marcelino da Mata. A contestação é esta afirmação é legítima e livre, a consequência que propoem é reveladora. Não sei quantos xenófobos haverá em Portugal. Mas trinta mil já são seguros. Porque quem acha que um português que nasceu noutro país merece pena diferente pelo uso da sua liberdade de opinião do que quem nasceu em Portugal assume-se sem margem para dúvidas como xenófobo. Acha que há cidadãos de segunda, com liberdades de segunda e opiniões de segunda, dependendo do lugar onde nasceram.
Comparar o escrutínio, absolutamente natural em democracia, de posições sobre matérias constitucionais de um presidente do Tribunal Constitucional aos apelos de deportação por delito de opinião é um insulto à nossa inteligência. Defender a liberdade de expressão não é defender a indiferença perante a opinião. É defender que o escrutínio se faz dentro das regras democráticas.
Na mesma semana, André Ventura espalhou um vídeo de uma aula à distância, captado ilegalmente, para acicatar o ódio dos seus apoiantes contra um professor devidamente identificado, sem qualquer instrumento de defesa, que referiu uns factos que ele acha que não podem ser referidos nas aulas. Apesar de tudo, não nos podemos queixar. Por cá, ainda não se prendem rappers pelo conteúdo das suas músicas.
Há uma total dessintonia entre a vitimização de um sector político da sociedade e o seu comportamento. Perante qualquer critica, queixam-se do cancelamento e da censura do “politicamente correto”. Mas para os que se atrevem a confrontar as suas posições exigem processos disciplinares e deportações. O objetivo da vitimização militante e da intimidação agressiva é o mesmo: ficarem a falar sozinhos. Foi sempre o que fizeram na História. Até chegarem ao poder e usarem meios mais eficazes. Não é que nos escondam ao que vêm. A deportação é, como foi no passado, o mais simpático que têm para oferecer.»
.