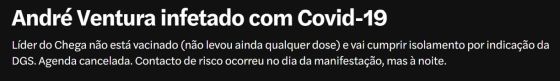.
14.8.21
Aljubarrota, 1385
Conta a história ou a lenda, e para o caso pouco importa, que foi num 14 de Agosto que «uma mulher corpulenta, ossuda e feia, de nariz adunco, boca muito rasgada e cabelos crespos», com seis dedos em cada mão, Brites de Almeida de seu nome, pegou em armas e se juntou às tropas portuguesas que se fartaram de matar castelhanos. Veio a casa, despachou mais sete que encontrou escondidos no forno e fez-se de novo à estrada.
.
Ser uma pessoa real antes de pedir votos
«Sigo Sanna Marin no Instagram. Eu e mais de 470 mil pessoas. Não só pela sua simpatia, carisma e glamour. Acompanho-a porque, sem abrir mão de postar nas redes sociais, a primeira-ministra mais jovem do Mundo mostra-se uma pessoa real, mesmo sendo a primeira-ministra da Finlândia.
Um recandidato à presidência de uma câmara municipal portuguesa também me segue. Bem vistas as coisas, impôs-se num outdoor bem grudado à saída de minha casa, escondendo parte de um tranquilizante relvado de uma cidade onde todos os espaços verdes deveriam ter aqueles autocolantes que colamos nas caixas de correio com a inscrição "publicidade não endereçada, aqui não, obrigado".
Certamente por falha minha, conheço melhor a chefe do Governo de centro-esquerda finlandesa do que o candidato e presidente da autarquia onde resido. Sei que Sanna Marin é ecologista e feminista. Sei que cresceu numa família formada pela mãe e pela companheira, décadas antes de a lei finlandesa reconhecer o casamento homossexual. Sei que o seu trabalho se centra em torno da sustentabilidade e igualdade de género. Percebo que consegue agarrar a atenção dos mais jovens, o que explica grande parte do seu sucesso eleitoral.
Certamente por falha minha, conheço muito pouco do recandidato que impôs a sua fotografia em frente ao prédio onde habito. E a pergunta surgiu. Os 33,6 milhões de euros que partidos, isolados ou em coligações, e os movimentos independentes vão gastar durante a campanha eleitoral para as autárquicas do próximo mês farão com que cada português conheça melhor quem se propõe gerir a sua terra? Os orçamentos refletem essa preocupação.
Muitos milhares serão gastos em propaganda, comunicação impressa e digital, estruturas, cartazes, telas e comícios. Mas mais milhares vão para agências de comunicação e sondagens. Portanto, antes de pedirem os votos, os candidatos saberão bem a quem, onde e quando pedir. O como é que não muda. Tem mudado quase tudo, menos a forma que Sanna Marin já adotou há algum tempo. Ser uma pessoa real.»
.
13.8.21
Esta crónica não é 100% portuguesa
«Colecionar luso-descendentes para colar na caderneta “Portugueses Famosos no Estrangeiro” é um dos passatempos preferidos do país. Quando, ainda por cima, juram que têm Portugal na alma, é ver o ego nacional a inchar. No fundo, todos sabemos que o seu sucesso resulta de uma árvore genealógica com um ramo neste canto da Península Ibérica. Não tivesse pais açorianos e Nelly Furtado nunca teria produzido ‘I’m Like a Bird’, uma das músicas mais pegajosas do virar do século XXI. Antoine “Lopes” Griezmann só é uma das estrelas da seleção francesa porque o avô jogou no Paços de Ferreira. Quando tira o nosso passaporte da gaveta para servir a mãe-pátria, o luso-descendente é tratado como o filho pródigo que voltou a casa. Onde os pés de Raphaël Guerreiro ou as mãos de Anthony Lopes tocam numa bola está plantado um comentador emocionado com o regresso da nossa diáspora.
Se rebentamos todos de orgulho com quem faz gala da sua ascendência portuguesa, nem todos apreciam que sejam para aqui chamadas heranças alheias, sobretudo se forem mais escuras. A visão de uma bandeira da Guiné nos festejos da eleição de Joa¬cine Katar Moreira causou vários ataques de apoplexia. Até Patrícia Mamona, a atual detentora da medalha de prata olímpica no triplo salto, ressente-se de muitos não a considerarem uma portuguesa a sério por ter ascendência angolana. E, enquanto recebemos de braços abertos os filhos de emigrantes que jogam na seleção, o nosso primeiro instinto perante um estrangeiro naturalizado que queira fazer o mesmo é desconfiar. Quando os brasileiros Deco e Pepe viraram portugueses para marcar golos por Portugal, foi-lhes rapidamente explicado que o amor à pátria é muito bonito, sim senhor, mas guardem lá isso para o vosso país de origem.
O último suspeito de apresentar níveis deficientes de portugalidade é Pedro Pichardo, o atleta que, depois de abandonar Cuba, se fez português em 2017 e acabou de ganhar nos Jogos Olímpicos a medalha de ouro no triplo salto. Por mais que o homem se esforce por falar português e cantar o hino, elogie o clima ameno, faça referência à filha nascida em solo nacional e garanta que até vê jogos do Benfica, muita gente continua a medir com suspeição o seu índice de lusitanidade. Tudo bem, ganhou uma medalha de ouro que nos ofereceu em sinal de agradecimento, mas olhando bem, com olhos de ver, a coisa é capaz de não ser assim tão portuguesa.
Caso o “Portugal Total” dependa de uma formação apenas em instituições com certificado de autenticidade lusa, como defende o candidato da CDU à Câmara de Aveiro, nunca produzi nada made in Portugal. Com toda a escolaridade feita em escolas públicas francesas, obter um 100% está fora de questão. Também devo chumbar nos testes de nacionalismo mais exigentes que o Chega gostava de aplicar a quem pretende naturalizar-se português. Consigo debitar mais reis franceses do que portugueses, tenho dificuldade em reduzir Napoleão a um facínora que pôs o país a saque e continuo a achar que chamar croissant à massa de brioche vendida por aí é publicidade enganosa. Durante o último Euro, fui, inclusive, acusada de cantar ‘A Marselhesa’ com mais convicção do que ‘A Portuguesa’ — o que, dizem-me, é matéria para crime de alta traição.
Só que a mim ninguém me pergunta nada, sendo certo que também nunca produzi nada de muito relevante, quanto mais ouro olímpico. Mas também ninguém questiona o índice de nacionalismo dos jogadores de futebol que aproveitaram ter pais portugueses para trocar França por Portugal. Já Pichardo é obrigado a repetir declarações de gratidão, rejeitar energicamente qualquer ligação ao Estado cubano e sujeitar-se a uma verificação constante dos seus progressos no portuguesismo — ao princípio, péssimo sinal, não apreciou muito esta mania do bacalhau; agora está bem melhor, até diz que só lhe apetece comer um bom bacalhau à Brás.
Perante a lei, tanto podem ser nacionais portugueses os luso-descendentes como, preenchidas certas condições, os que nascem em território português ou aí residem há mais de cinco anos. No caso de Pichardo, foi aplicada uma norma especial que permite atribuir a nacionalidade a quem seja chamado a prestar um serviço relevante à comunidade nacional — conseguir saltar mais de 18 metros e ter uma medalha de ouro olímpico é capaz de ser suficiente para preencher esta regra. Portugal também convive pacificamente com a dupla nacionalidade desde 1981, estando ultrapassada a ideia de que, como ninguém pode servir dois senhores, ninguém pode ter dois países.
Nada disso impede muitos portugueses de continuarem a privilegiar, por sistema, a origem portuguesa e a exigirem que as ligações ao estrangeiro sejam, no mínimo, camufladas. Acumular uma origem portuguesa com uma nacionalidade estrangeira é motivo de orgulho; declarar-se português e orgulhar-se de uma ligação ao estrangeiro é crime de bigamia lesa-pátria. O passaporte português de um luso-descendente é uma continuação natural do álbum com fotografias dos avós e da casa de férias em Ponte de Lima. O mesmo passaporte nas mãos de um estrangeiro só pode ser um livre-trânsito para se aproveitar de nós. Daí a exigência de declarações de dedicação exclusiva a Portugal e o “esqueçam lá esse sítio de onde vieram” — ou de onde vieram os vossos pais.
“At Home in Two Countries” é o título de um livro escrito por um professor de Direito norte-americano, Peter J. Spiro, onde este estuda a história e a situação atual da dupla nacionalidade. Ter mais do que uma nacionalidade é o melhor exemplo da possibilidade de estar em casa em vários espaços nacionais. Sendo Portugal um país de emigrantes, isto devia ser óbvio. Em vez de duvidar da real integração de Pichardo no país onde vive, devíamos lamentar que não possa voltar ao país onde nasceu e perguntar-lhe como se vai manter cubano enquanto aprende a ser português. Um processo normalmente bastante mais rápido do que muitos parecem achar, como pode atestar quem me apanhou em 1977 a torcer pela vitória da canção francesa na Eurovisão — em minha defesa, a cantora era a luso-descendente Marie Myriam. É perfeitamente possível vibrar mais com o “allons enfants de la Patrie” do que com os nossos “egré¬gios avós” e, mesmo assim, odiar todos os franceses quando conseguem eliminar a seleção nacional.»
.
12.8.21
12.08.1963 – «Havemos de chorar os mortos se os vivos os não merecerem»
Foi em 12 de Agosto de 1963, duas semanas depois de o Conselho de Segurança ter condenado a política colonial portuguesa, que Salazar fez um importante discurso – «Vamos a ver se nos entendemos» – , na RTP e na Emissora Nacional.
Mas seria esta frase, rebuscada bem no seu estilo, que ficaria na lista das citações históricas do ditador: «Havemos de chorar os mortos se os vivos os não merecerem».
Mais informação, vídeo e sons neste post de 2019.
.
O exemplo dos políticos

«Numa das campanhas presidenciais de Cavaco Silva, coube-me cobrir duas ações do candidato em instituições sociais de Miranda do Corvo e da Lousã, no distrito de Coimbra.
Na primeira delas, a comitiva visitou utentes com sequelas físicas resultantes de acidentes de viação e, no fim, Cavaco Silva proferiu um discurso de apelo ao cuidado dos automobilistas na estrada. A escolha do tema e o apelo faziam todo o sentido, numa época em que o país tinha índices de sinistralidade rodoviária ainda piores que os de hoje.
Porém, findo o discurso político, a comitiva do candidato arrancou a todo o gás para a Lousã. Ao volante do meu carro, tentei não ficar muito para trás e lembro-me de ver o ponteiro do conta-quilómetros acima dos 140, numa estrada onde não seria permitido ultrapassar os 90. Mesmo assim, quando cheguei ao destino, já a visita do candidato à instituição lousanense ia a meio. Não devo ter perdido nada de importante, mas, na altura, julguei pertinente chamar a título de jornal um velho aforismo: "Bem prega Frei Tomás; faz o que ele diz, não faças o que ele faz".
Lembrei-me do episódio a propósito do atropelamento mortal, pela viatura oficial do ministro da Administração Interna, de um trabalhador da empresa que limpa as bermas da A 6. Já lá vão quase dois meses e a pergunta que todos continuam a fazer é: ia ou não a viatura ministerial em excesso de velocidade? Dada a periclitante situação política em que a dúvida deixou Eduardo Cabrita, creio que já teríamos tido resposta, se a sua viatura não tivesse surpreendido o malogrado trabalhador a uma velocidade muito acima do limite legal de 120 km/h.
Mas o que tivemos até agora da parte do Governo foi, essencialmente, silêncio, a garantia ministerial (taxativamente desmentida do lado da Brisa) de que "não havia qualquer sinalização" dos trabalhos de limpeza na A6 e um Augusto Santos Silva (o ministro reservado para as horas difíceis dos seus "compagnons de route") estupefacto por se "trazer acidentes de viação para o debate político". Como se o ministro da Administração Interna não tivesse "por missão formular, conduzir, executar e avaliar as políticas de segurança rodoviária". Como se, enfim, não coubesse a um ministro dar o exemplo - o bom exemplo.
P.S.
Não é só o ministro da Administração Interna que está em causa. A GNR, mais importante para o país do que qualquer político de passagem por aquele cargo, também joga aqui a sua credibilidade. Espera-se dela que use todos os meios ao seu dispor para investigar o acidente com objetividade, rigor e, já agora, sem derrapagens. Cinquenta e cinco dias parecem já uma demora excessiva.»
.
11.8.21
«Vai ficar tudo bem»?
Só acredito que «Vai ficar tudo bem» quando Marcelo fizer as primeiras declarações políticas da época em calções de banho.
.
A promoção da cultura científica não é só uma política simpática — é uma urgência
«Numa família que a minha família conhece, num país estrangeiro, um dos filhos deu já há anos em islamista radical. Há poucos meses, a novidade é que esse filho é agora fundamentalista anti-vacinas; nas manifestações a que vai e nos círculos onde recolhe desinformação, partilha agora a causa e os objetivos de islamofóbicos radicais. Uma teoria da conspiração nunca vem só, e provavelmente ele e os seus inimigos figadais são ainda capazes de partilhar elementos de anti-semitismo clássico, negacionismo das alterações climáticas e por aí afora.
Crenças são crenças; uma das suas características mais perenes é ser praticamente impossível persuadir alguém a abandonar racionalmente uma crença que não adotou de forma racional ou, como dizia o filósofo David Hume, “não se consegue tirar racionalmente uma pessoa de uma crença na qual não entrou racionalmente”. A única forma é combater por antecipação: preparar as pessoas para exercerem o seu raciocínio e espírito crítico por si mesmas, de acordo com princípios lógicos, inferências prováveis e uma base de conhecimentos adquirida penosamente ao longo de séculos, sempre possível de revisão, mas a mais sólida e certa que temos. A isto chama-se normalmente “promover a cultura científica”.
Em geral, ninguém se opõe à promoção da cultura científica, que costuma ser considerada uma política “simpática”. Mas nos tempos que correm, porém, promover a cultura científica é mais do que isso: é uma questão literalmente de vida ou de morte, urgente e decisiva.
O exemplo do negacionismo anti-covid, ou anti-vacinas, é evidente e fácil de explicar. Quando há uma bolsa suficientemente grande de gente que não se vacina, todos ficamos em risco pela possibilidade de aparecimento de novas variantes que aí encontram terreno fértil para se desenvolverem. Mas se é nesse momento apenas que temos de fazer a pedagogia das vacinas, então já chegámos tarde demais. A promoção da cultura científica não se dá bem quando é preciso vociferar; ela tem de ser feita com vagar, com paciência e serenidade durante décadas, desde o início da exploração consciente do mundo, de várias formas diferentes. E não tem havido políticas de promoção científica suficientemente amplas para isso tudo.
A covid-19 é uma urgência — e agora vemos a falta que a literacia científica faz às sociedades. Mas as alterações climáticas são uma urgência também — e um problema de uma magnitude acrescida a que não conseguiremos responder se também aí tivermos de estar agora a fazer o combate de retaguarda, pela confiança nos dados científicos, que deveria já estar ganho há muito tempo. E o impacto da Inteligência Artificial nas próximas décadas, ou da desinformação na rede, são mais outras de tantas urgências que não é possível resolver sem promoção da cultura científica.
Infelizmente aí esbarramos noutro problema — o da própria visão estreita da cultura científica que tantas vezes prevalece no espaço público. Promover a cultura científica não significa só meter cientistas no governo, ou pôr políticos a transferirem as suas responsabilidades para a ciência, como quem diz “nós seguimos a ciência” e já está. Significa ter cada vez mais cidadãos capazes de entender o debate científico mesmo como não-especialistas, e até de participar em projetos da chamada “ciência cidadã” (por exemplo, de recolha de dados estatísticos sobre o ambiente, o clima, etc.). Promover a cultura não significa insuflar a arrogância de cientistas ou a insularidade da ciência — pelo contrário, significa lançar mais pontes entre as ciências e as humanidades, entre estas e as artes, entre todas elas e a cidadania. Isto é trabalho que demora décadas, que começa cedo na escola, que prossegue ao longo da vida de várias formas diferentes. Que nos habilita a fazer crítica de fontes, a saber debater de forma construtiva e serena, a pesar argumentos e a medir riscos.
Um dos elementos de sedução do negacionismo está no facto de os negacionistas afirmarem que chegaram às suas verdades sozinhos. Pois bem, promover a cultura científica não pode significar dizer às pessoas para aceitarem acriticamente o que lhes dizem, mas antes de as habilitar a serem capazes de encontrar o seu caminho e de lhes dar as ferramentas de que todos hoje necessitamos para navegar uma realidade na qual a cultura científica é decisiva. Sem isso, nenhum dos nossos problemas presentes e do futuro próximo é resolúvel.»
.
10.8.21
10.08.1912 - Jorge Amado
Faria hoje 109 anos e continuam, com toda a justiça, referências à sua vida, a muitos dos livros, às suas estadias em Portugal.
Recordo o «acessório»: o que foi, entre nós, o retumbante sucesso de Gabriela, cravo e canela, a primeira de todas as telenovelas emitidas pela RTP, entre Maio e Novembro de 1977, com base na obra de JA com o mesmo nome. Companhia da hora do jantar, cinco dias por semana, em casa ou em cafés (eram muitas as famílias que ainda não tinham aparelhos próprios), era assunto generalizado de conversa, trouxe para a língua portuguesa termos e expressões brasileiras e transformou Sónia Braga num ídolo.
A «Gabrielomania» fez parar literalmente o país: a Assembleia da República interrompeu os trabalhos pelo menos quanto foi emitido o último episódio (era vital saber se Gabriela ficava ou não com Nacib...).
No dia seguinte à última emissão, o Diário de Lisboa discutiu o corte de trinta episódios, de que a telenovela terá sido objecto em Portugal.
.
Não, isto não é fake
É mesmo uma página que existe no Facebook, embora não oficial do partido Chega.
E o agora infectado por Covid, André Ventura, comentou: “Se eu acho e estou convencido que o Governo português ficaria feliz em silenciar-me? Naturalmente! Se existem neste mundo forças que de bom grado me eliminariam, física e politicamente? Sem dúvida! A luta contra a corrupção e o compadrio têm os seus custos!”.
É bom que se saiba onde isto já vai!
.
A prova de fogo do futuro
«Lembro-me bem do ano de 1988, quando, no seio da ONU, foi criado o Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC). Nesse ano, o verão foi particularmente violento (bastante moderado, se visto a partir de 2021...) e cientistas que nunca desistiram da sua cidadania, como é o caso do climatologista Stephen H. Schneider (1945-2010), escreveram profusamente sobre o próximo "século do efeito estufa", de uma Terra que a nossa debilidade moral, a começar pelas elites económicas e políticas, estava a transformar num sistema globalmente disfuncional. É nele que hoje habitamos.
O sexto relatório do IPCC, cuja primeira de quatro partes foi publicada ontem, causa no leitor um efeito paradoxal. O contraste abrupto entre uma prodigiosa obra de arte científica e a confirmação do estrondoso fracasso no plano prático da ação concreta que seria necessária para combater as alterações climáticas, aproveitando os importantes ensinamentos deste e dos outros relatórios. Embora a atenção mundial se concentre nas 42 páginas do Sumário para Decisores Políticos, só este primeiro módulo totaliza 3949 páginas que não teriam sido possíveis sem uma navegação por mais de 14 mil estudos científicos levada a cabo pelo generoso contributo de centenas de autores, revisores e peritos de vários saberes. Fracasso prático, contudo, pois apesar de todos os alertas a verdade é que desde 1988 a humanidade emitiu mais gases de efeito estufa para a atmosfera do que desde a consolidação do Homo sapiens.
Este relatório confirma-nos tudo aquilo que há anos ainda poderia suscitar dúvidas. As mudanças em curso não são evitáveis nem reversíveis. Contudo, a ação coletiva, a cooperação internacional, são tão fundamentais para a mitigação (para impedir o descontrolo total da concentração de gases de estufa) como as iniciativas regionais e nacionais para a adaptação (que nos permite resistir, apesar dos impactos inevitáveis). O futuro que os últimos 70 anos de irresponsável aceleração consumista nos impuseram deixa-nos ainda uma escolha fundamental que depende só de nós, como sociedade e indivíduos: mudar para um estilo de vida onde a resiliência se conjuga com dignidade ou continuar a ignorar todos os alertas, até que o futuro se manifeste caoticamente, comprometendo a sobrevivência humana em largas regiões da Terra. Se utilizarmos esta escolha como crivo das atuais políticas nacionais e europeias, verificaremos que muitas das medidas em curso falham redondamente o teste do futuro.
.
9.8.21
Um outro lado de Nagasaki
A acção da célebre ópera de Puccini, Madame Butterfly, passa-se em Nagasaki e relata uma relação trágica entre um oficial da marinha americano e Cio-Cio-San (butterlfy ou borboleta), uma gueixa de 15 anos.
Entre 1915 e 1920, o papel de Cio-Cio San foi interpretado por uma célebre cantora japonesa, Tamaki Miura, e há uma estátua sua, e outra de Puccini, no magnífico Jardim Glover que se situa numa colina sobre Nagasaki e ao qual se acede pelo maior e mais íngreme complexo de escadas rolantes, que alguma vez me foi dado ver e utilizar.
Aí se visita também a residência de Thomas Blake Glover, um empresário escocês que muito contribuiu para a modernização industrial do Japão - uma lindíssima casa de estilo ocidental, a mais antiga que resta naquele país.
.
.
09.08.1945 – Nagasaki três dias depois de Hiroshima
Já tinha estado em Nagasaki, mas sem visitar o Museu da Bomba Atómica. Fi-lo há três anos e este é um relógio parado na hora em que se deu a tragédia. Neste post de 2020, um vídeo e várias imagens do actual Parque da Paz.
.
O copo meio vazio dos Jogos Olímpicos
«Acabaram os “Jogos mais estranhos de sempre”, como titulava a notícia do enviado especial do PÚBLICO a Tóquio, e com as imagens emocionantes de tantas finais ainda na memória chegou a hora do balanço. Os Jogos deixaram de ser a manifestação do poder global de um país ou de um bloco como nos tempos da Guerra Fria, mas é impossível não encontrar na galeria das medalhas acumuladas razões de sucesso ou insucesso nacional. O desporto transforma-se assim num sucedâneo da geopolítica mundial e, ainda que seja deplorável que a glória ou o fracasso se façam tantas vezes à custa do esforço desumano dos atletas, é bem melhor que os Estados Unidos vençam a China nos pavilhões, nas pistas ou nas piscinas do que nos mares cada vez mais instáveis da Ásia.
É neste contexto que se impõe a discussão dos resultados de Portugal. É certo que, face às expectativas, uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze não é caso para depressões – foram até os melhores desempenhos de sempre e não tem valor algum argumentar que o ouro português se deve a um atleta formado em Cuba. Mas ver nestas medalhas uma razão de orgulho nacional é apenas uma prova da tolerância à mediocridade com que tantas vezes Portugal se engana e se resigna. Ficar no 56.º lugar do ranking mundial, muito atrás dos sucessos de países europeus com os quais comparamos do ponto de vista demográfico, social e económico, não é caso para celebração. Se medirmos o PIB per capita do país no mundo e o ligarmos às quatro medalhas olímpicas, temos razões para perceber que o país é um anão no desporto mundial.
Há anos que este reconhecimento se faz e há anos que se repetem mil e uma receitas para melhorar a competitividade do desporto em Portugal. Vamos por isso regressar às causas do falhanço do desporto escolar, às debilidades dos clubes, à ausência de apoios públicos e privados, à carência de infra-estruturas, e por aí a fora. Mas vamos também depressa esquecer os resultados e deixar o problema cair no esquecimento até que os próximos resultados medíocres nos sobressaltem. Um modelo de desporto voltado para o alto rendimento exige planeamento, perseverança, recursos e organização, qualidades que o país manifestamente não tem.
Resta-nos prestar todas as vénias aos que, neste contexto, conseguem ainda assim sobressair, competir e vencer. Mas dizer que os “objectivos foram plenamente atingidos” é dizer que não temos objectivos nenhuns. No desporto olímpico, como na economia, Portugal está na cauda da Europa, e o primeiro passo para sair desse lugar é recusá-lo como bom.»
.
8.8.21
André Ventura
Afirma que ainda não se vacinou por se tratar de uma decisão pessoal que ainda não tomou. Talvez se arrependa agora.
Fez dois testes de antigénio e «irá, esta segunda-feira, realizar um teste PCR indicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), tendo de ficar em isolamento profilático. O deputado único deverá estar pelo menos dez dias em isolamento, caso o teste PCR dê positivo, ou 14 dias caso dê negativo, mas tendo de cumprir o isolamento por ter estado com alguém que testou positivo ao novo coronavírus».
(Observador, 08.08.2021)
.
Raul Solnado
12 anos sem ele, mas podemos sempre voltar a ver e ouvir esta pérola: «A Guerra».
.
Grisalho e inseguro
«Apesar da relevância dos contextos culturais e religiosos, a natalidade está quase sempre relacionada com necessidades económicas. Em países muito pobres, os filhos não são apenas bocas para alimentar, são braços para trabalhar. Portugal é demasiado rico para as crian¬ças trabalharem e demasiado pobre para lhes garantir, a elas e aos pais, o conforto desejável. E isso agravou-se na última crise financeira, como o último Censos confirma: comparando com 2011, somos menos 214 mil. Pior só nos anos 60. Em 2013, 35% das mulheres adultas em idade fértil não tinham filhos, em 2019 eram 42%. 93% das mulheres e 97% dos homens com menos de 29 anos não têm filhos. Ou seja, os que têm filhos adiam a decisão. A imigração ajudaria a resolver o problema — na primeira década deste século ajudou. Mesmo assim, seria solução de curto prazo. Os imigrantes adaptam-se aos condicionalismos nacionais.
Para além da defesa genérica de uma partilha mais equilibrada das tarefas domésticas e de mais creches ou apoios financeiros aos pais, grande parte das “políticas de natalidade” tem sido fiscal, propondo-se resolver o problema onde ele está resolvido: nas pessoas com mais recursos. Os benefícios fiscais só têm um impacto significativo em quem paga muitos impostos — os mais ricos. E não me parece que a proposta de um reforço na reforma por cada filho, feita por Bagão Félix, mude grande coisa. Ninguém decide ter filhos aos 30 a pensar no que receberá aos 70. Pensa nas condições previsíveis nos anos seguintes. Para a maioria, os problemas mais graves não são fiscais ou a longínqua reforma. Nas sociedades mais desenvolvidas da Europa, não ter filhos é, em parte, uma escolha. Para os conservadores, ter filhos é um dever. Para mim, é um direito. Por cá, nem isso é, como mostra o grande desvio entre a fecundidade desejada e a efetiva.
2013 foi dos anos mais trágicos para a natalidade. Vivíamos o pico dos anos da troika e as expectativas eram péssimas. Não por acaso, o índice sintético de fecundidade melhorou entre 2015 e 2019. E, perante a incerteza, deve bater recordes negativos no primeiro semestre de 2021. Se a decisão de ter filhos depende de expectativas, políticas de natalidade são políticas de segurança. Combatendo a precariedade que devasta um país onde se instalou o mito de que temos um mercado laboral rígido. Sabendo que não há adaptação de horários às necessidades parentais quando o trabalhador não tem o poder negocial que só o vínculo lhe dá. E garantindo habitação acessível, novo fator relevante de estabilidade, que só políticas públicas podem favorecer. E é aqui que está o desencontro político neste debate: os que, por razões morais e religiosas, mais falam de natalidade são os que, por razões ideológicas e sociais, mais se opõem a políticas que não reservem o luxo de ter filhos a quem está preocupado com quanto pode abater nos impostos da mensalidade do colégio. A crise demográfica é cumulativa — quanto menos crianças nascem, menos mães e pais haverá. Por isso serão precisas décadas de políticas sociais e laborais para vencer esta crise. Não são as missas pela natalidade e pela família dos que acreditam que o mercado chega para resolver a precariedade no trabalho e a falta de habitação acessível que abrandarão o envelhecimento do país. E os poucos que têm segurança, quando as coisas correm pior não podem ter filhos por todos.»
.
Subscrever:
Comentários (Atom)









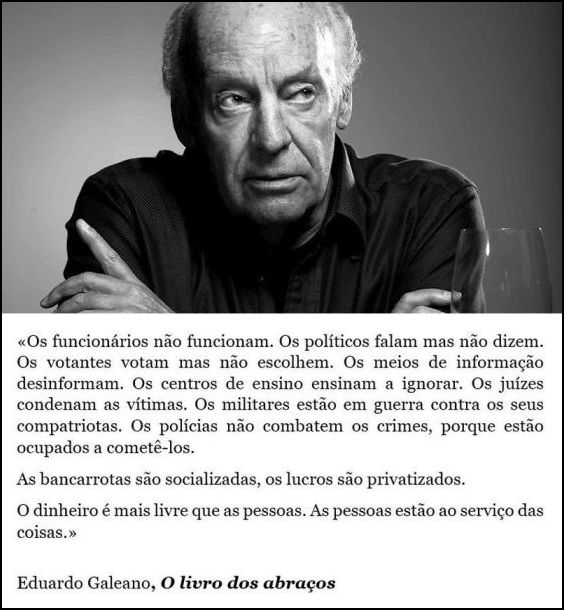


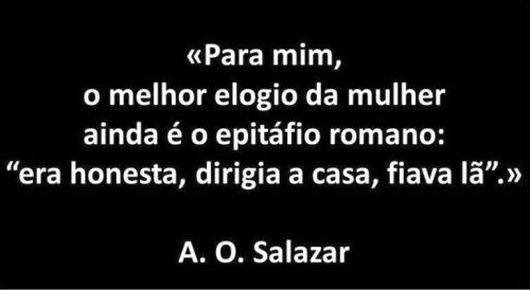



.jpg)