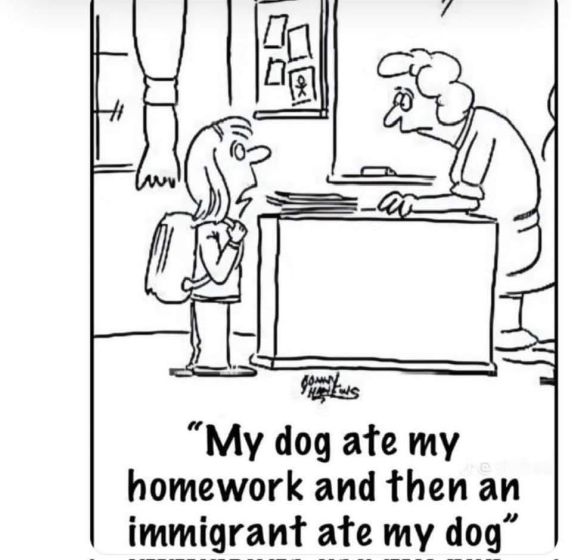21.9.24
21.09.2012 – Quando o aumento da TSU foi enterrado
Seis dias depois da manifestação «Que se lixe a troika», em 15 de Setembro, fomos milhares os que estivemos em frente ao Palácio de Belém, à espera das conclusões de uma reunião do Conselho de Estado.
Durante muitas horas, milhares de pessoas em Lisboa, e muitas outras espalhadas pelo país, deram ao conclave e aos seus membros a importância suficiente para esperarem, de pé, e lançarem gritos de protesto, de apelo e de raiva. Continuaram o que várias centenas de milhares de portugueses tinham começado alguns dias antes.
A reunião do dito Conselho durou oito horas e emitiu um comunicado, inócuo, incolor e inodoro, mas que incluía o único parágrafo que interessava: «O Conselho de Estado foi informado da disponibilidade do Governo para, no quadro da concertação social, estudar alternativas à alteração da Taxa Social Única». Era de esperar outra coisa? Não, de modo algum. A batalha tinha sido ganha antes disso. Na rua.
Esperámos assim:
Esperámos assim:
.
Sabe onde acaba a roupa que devolve online?
«Há 20 anos, uma amiga de Nova Iorque disse-me que não tinha tempo para comprar roupa, tinha dois filhos pequenos e alguns países saídos de guerras civis para ajudar.
— Porque é que vou perder tempo a ir a lojas se posso encomendar vários tamanhos e várias cores online e devolver o que não quero?
Agora, outra amiga de Nova Iorque marcou viagem para Lisboa e, porque gosta muito de uma marca de roupa francesa que não se vende nos EUA, foi ao site francês e encomendou várias coisas para entrega em Lisboa. As taxas alfandegárias que os EUA cobram aos bens importados da Europa são altas, transacções que, no mercado europeu, custam zero euros.
Primeiro veio a caixa, enorme; semanas depois, a amiga. Chegou, abriu a encomenda, tirou os cartões que fazem de chumaços para acomodar as peças, tirou as folhas de papel de seda, tirou os sacos de plástico e, mal viu a roupa, fez má cara.
Nada era como tinha imaginado. Nem os tamanhos — e ela encomendou mais do que um para a mesma peça —, nem os cortes, nem as cores. O que parecia bonito no site era afinal largueirão, sensaborão, deselegante. Torceu o nariz e foi experimentar.
Passados nem dez minutos, estava de volta. Não valia a pena. Estava tudo mal. No dia seguinte, foi aos correios e devolveu tudo para França.
Disse a minha amiga, que trabalha com mercados e comércio internacional há 30 anos:
— Que estupidez. Caixas e sacos e roupa de um lado para o outro para nada. O que vale é que a devolução é grátis.
Mas não é “para nada” e só é gratuito para o cliente. É mau para o planeta e para as empresas.
É conhecida a história de Aparna Mehta, que acaba de se reformar como vice-presidente do departamento de Global Customer Solutions da UPS, que, do escritório em Anaheim, na Califórnia, trabalhou durante anos no desenvolvimento de “soluções inovadoras e tecnológicas” de logística.
É conhecida porque, tendo percebido que estava viciada em compras online, e sabendo um pouco sobre o mundo da logística, ficou horrorizada ao descobrir o que acontece às devoluções. E fez um TED Talk que começa assim:
— Olá, o meu nome é Aparna e era viciada em devoluções online.
Podia aqui falar dos números impressionantes do desperdício da indústria da moda: os seus 10% das emissões mundiais de gases com efeito de estufa; os 20% da poluição das águas residuais industriais; os 2700 litros de água necessários para fazer uma T-shirt de algodão; os 57% da roupa deitada fora que vai para aterros.
- Mas não é sobre isso que Aparna Mehta fala. Ela não quer mudar a indústria mundial da moda. Tem uma ambição mais modesta: mudar o hábito de comprar a mais para devolver. Só nos EUA, 40% dos clientes online compram vários tamanhos do mesmo artigo com a intenção de devolver alguns.
Há cálculos que indicam que o custo do dióxido de carbono das devoluções nos EUA é equivalente à produção de três milhões de carros.
O teaser do seu TED Talk diz: “Já alguma vez encomendou roupa online em tamanhos e cores diferentes, só para a experimentar, e depois devolver o que não serve? Aparna Mehta estava sempre a fazer isso, até que um dia se perguntou: para onde vão todas estas roupas devolvidas?”
Uma das respostas é: para o Chile. As montanhas de roupa no Chile chegaram a ser tão grandes que eram captadas com clareza por imagens de satélite. Em 2022, teriam entre 11 e 59 toneladas.
A denúncia apareceu originalmente no site do Grist, organização de media independente “dedicada a contar histórias de soluções climáticas e futuro justo”, e este ano a reportagem foi co-publicada no diário El País e na revista Wired, como parte da Climate Desk, uma colaboração jornalística multimédia internacional com dezenas de parceiros, como o Guardian, a Yale Environment 360 e o Bulletin of the Atomic Scientists.
Há anos que as roupas são amontoadas no deserto de Atacama, 1600 quilómetros a norte de Santiago do Chile, conhecido por ser uma das regiões mais áridas do planeta e por ser um “deserto florido”. Quando chove muito, o que é raro, grandes áreas do deserto ficam subitamente cobertas por um tapete de flores roxas e amarelas, de entre 200 espécies de plantas que florescem, um fenómeno natural ligado a sementes dormentes que conseguem ficar anos à espera de chuva sem morrer.
Na reportagem do Grist, li que ninguém sabe quanta roupa passa por ano pelo porto de Iquique, mas são muitas toneladas. Os contentores vão para a zona franca de Zofri, onde estão os armazéns de 50 importadores de roupa usada. “O Chile é o maior importador de roupa usada da América do Sul e, entre 2020 e 2021, foi o importador de roupa usada que mais cresceu no mundo.” Segundo o grupo global de defesa do ambiente Eko, 85% da roupa usada importada para Iquique não é vendida.
Para onde vai? Isso: para o deserto de Atacama.
Continuei a ler: nos últimos 20 anos, a produção mundial de roupa duplicou, ao mesmo tempo que o número de vezes que uma peça de roupa é usada antes de ser deitada fora diminuiu 36%. “Países como o Chile, o Haiti e o Uganda tornaram-se repositórios de restos da fast fashion. Só em 2021, o Chile importou mais de 700 mil toneladas de roupa nova e usada, o peso equivalente a 70 torres Eiffel.”
O jornal online Quartz, que escreve sobre grandes empresas, negócios, tecnologia e inovação, publicou em 2016 uma notícia cujo título era “Os presentes devolvidos estão a criar um desastre ambiental”.
Diz o jornal que “muitas devoluções não voltam para o inventário das lojas e para as prateleiras”. O que acontece? “Aumentam a pegada de carbono à medida que percorrem uma rede de intermediários e revendedores. A cada passo, uma parte desses bens será descartada em aterros sanitários.”
Ou em montanhas ilegais no deserto de Atacama, no Haiti, Uganda, Quénia e Gana. Só ao mercado de roupa em segunda mão de Acra, no Gana, chegam por semana 20 milhões de peças com origem no Ocidente — 40% saem do mercado como lixo e vão para baldios.
Já percebeu como isto acaba: muitas roupas são encontradas ainda com as etiquetes do preço. Nunca foram usadas. São as nossas roupas devolvidas.»
20.9.24
Fragilidade e elegância
Vaso em forma de flor camafeu, Estúdios Tiffany, cerca de 1903.
Arte em vidro de Louis Comfort Tiffany.
Daqui.
Sophie Loren
Chega hoje aos 90!
Recuperada de uma operação realizada há um ano, após uma fractura da anca, festeja o dia de hoje num hotel de Roma.
Todos, todos, todos
«Todos, todos, todos os anos, esperamos pelos incêndios como por uma prima emigrante que vem passar as férias grandes»
O milagre da despolitização dos incêndios
«Se compararmos com os incêndios de 2017, bem diferente é o papel do Presidente. Onde antes fazia avisos no terreno, hoje presta solidariedade incondicional em Conselho de Ministros. Bem diferente é o comportamento da comunicação social. Onde antes procurava responsabilidades, hoje assiste a briefings sem perguntas. E, no entanto, há política para debater. Já não falo da repetição de erros, como falhas graves no corte inicial de estradas, que só não acabaram em tragédia por sorte. Ou da fraquíssima comunicação prévia às populações. As coisas estão melhores porque o sobressalto nacional de 2017 levou a que se tomassem medidas nos anos seguintes. Mas, mais uma vez, há debates políticos a que temos de regressar.
Já nem me refiro às alterações climáticas. Temperaturas superiores a 30 graus, humidade inferior a 30%, vento superior a 30 km/hora são a receita para o desastre. E esta combinação atingiu, em várias regiões do país, o primeiro lugar desde 2001. O verão de 2023 foi o mais quente de que há registo na Europa. A Europa aqueceu mais depressa do que qualquer região do globo — 0,5 graus por década, nos últimos 30 anos. E o maior contributo vem do Sul, onde estamos. Nós somos das principais vítimas das alterações climáticas e só as debatemos para desancar ativistas. Nestas circunstâncias, o máximo que podemos sonhar é defender vidas e bens. Até a Califórnia, com parques nacionais cuidados, perdeu quatro mil quilómetros quadrados de floresta este ano.
Mas o que está apenas nas nossas mãos é o desordenamento crónico do território. Não é que não tenhamos aprendido nada com 2017, como li por aí. É que o problema vai muito para lá de políticas sectoriais. Temos grande parte do território abandonado e envelhecido. Não há quem cuide da floresta, para que ela dê o rendimento que financia a sua preservação. Não se conseguiu que terras com donos absentistas fossem integradas numa gestão coletiva que lhe garanta recursos. Nem que a limpeza da mata compense, como já compensou. Não se pode esperar que o abandono do território não tenha como consequência a incúria. Com a floresta abandonada, só o eucalipto parece ter retorno. E se a árvore das patacas dá dinheiro, deixa-se que ela acabe com o resto. É o que fazemos com o turismo: sem conta, peso e medida.
Nisto, não aprendemos mesmo nada desde 2017. Os eucaliptais ocupam 10% do território nacional, muitíssimo mais da área florestal. Mesmo assim, 81% da área reflorestada depois de 2017 são eucaliptos. E parece não chegar. A Navigator defende um aumento da área para a plantação, deixando no ar uma crítica às tímidas alterações a uma lei liberalizadora do Governo de Passos, cujo secretário de Estado das Florestas foi para diretor-geral da associação que reúne os gigantes da celulose. Se fizermos a justaposição dos mapas dos incêndios e da área de eucaliptal, veremos uma coincidência quase absoluta. A espécie, não autóctone, tomou conta do território como uma praga. E larga, perante ventos superiores a 30 km/h, folhas incineradas que espalham o incêndio.
O debate político não tem de se resumir a encontrar bodes expiatórios. Mas Montenegro soube precaver-se. O seu briefing sem perguntas concentrou-se no fogo posto. Também poderia ser o tema de 2017, quando o crime também “sobrevoava” a calamidade. Mas nessa altura os criminosos foram, para o PSD, ministros e primeiro-ministro. Sempre houve fogo posto. Mas temos um quarto das ignições que já tivemos. O mesmo que Inglaterra. E só 1% delas são responsáveis por 90% da área ardida. Há centenas de incêndios que não chegam a ser problema. A questão é por que progridem até serem incontroláveis. Mas não é por acaso que o primeiro-ministro abordou o tema do fogo posto da forma mais populista possível, falando de interesses não concretizados (sem que lhe pudesse ser perguntado a que se referia) e prometendo perseguir os criminosos. Com um discurso popular sobre crime, afastava, preventivamente, o foco das políticas públicas.
Montenegro conseguiu que tudo o que é político, do ordenamento do território à invasão do país pelo eucalipto, da economia da floresta às falhas iniciais destes incêndios, desaparecesse. Sem perguntas, com o Presidente como escudo e a ministra da Administração Interna fechada numa cave durante os dias mais críticos, fez do fogo posto o tema central, lançando suspeitas vagas e prometendo substituir-se à polícia. Assim, o Governo passou de ator político a vítima do crime, desviando as atenções para o que enoja todos. Em comparação com 2017, demonstra génio na comunicação política. Mas isso chega?»
19.9.24
E janelas?
Janelas com vitrais, Casa Lleó i Morera, Barcelona, 1902-1906.
Arquitecto: Lluís Domènech i Montaner.
Vitrais: Antoni Rigalt i Blanch.
Daqui.
19.09.1981 – Simon & Garfunkel no Central Park

Há 43 anos, teve lugar o memorável concerto que Simon & Garfunkel deram no Central Park de Nova Iorque. Reza a história que assistiram 500.000 pessoas e foi gravado ao vivo, dando origem a um álbum lançado no ano seguinte. Os lucros obtidos reverteram para a reforma e manutenção do parque e nós herdámos um espectáculo inesquecível.
Algumas das grandes canções:
E o concerto na íntegra:
.
Queimar espantalhos
O primeiro-ministro optou pelo caminho mais fácil e no final do Conselho de Ministros de anteontem decidiu agitar o espantalho dos “interesses particulares” e da existência de “coincidências a mais” para prometer mão pesada para os criminosos. Logo ele que, enquanto líder da oposição, acusou o anterior executivo de “tentar desresponsabilizar-se” por tudo o que corria mal no combate aos incêndios.»
Um pedido às televisões: parem de ser incendiárias!
«O título é uma figura de estilo, claro; as televisões não são incendiárias, mas o que se passa na informação televisiva, cada vez que há grandes incêndios, é de uma grave irresponsabilidade social: há estudos que mostram o efeito mimético que tem, junto de algumas pessoas perturbadas, o ver chamas na televisão. Por isso, as televisões deveriam voltar atrás, ao que já aconteceu, quando se puseram de acordo para evitar a exibição de imagens dos incêndios.
Ou será que sonhei? Procuro o rasto noticioso desse acordo entre RTP, SIC e TVI (ainda não existia CMTV) e não o encontro; falo com outros jornalistas e já poucas memórias há; mas vários camaradas me confirmam que sim, que ele existiu. Progressivamente, nos últimos anos, as chamas voltaram à informação televisiva. E em força.
Não tenho o documento, mas uma busca rápida permite encontrar declarações, por exemplo, de Cristina Soeiro, psicóloga da Polícia Judiciária, que em 15 de Setembro de 2017 dizia à Lusa que havia um efeito de banalização provocado pelas imagens de chamas nas televisões. E era bem concreta sobre a importância de evitar desde expressões como “época de incêndios” até aos longos minutos na televisão com imagens de floresta a arder que são excessivos e podem amplificar a situação.
Em 18 de Agosto do ano passado, a TSF ouviu o presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), Tiago Oliveira, que dizia, entre outras coisas relevantes, que se sabe “que as imagens de chamas provocam comportamentos miméticos”. E a provedora da RTP, Ana Sousa Dias, referia queixas de telespectadores e sublinhava que “há um entendimento de que é perigoso insistir nas imagens de fogos florestais”.
Trata-se, por isso, de uma questão de (ir)responsabilidade social. Como jornalistas, o nosso dever é informar. Mas informar bem, com rigor e contenção, sem exacerbar emoções nem apelar a instintos básicos. Não precisamos de directos infindáveis, a descrever o mesmo, dezenas de vezes, em todo o lado: cenário dantesco, inferno, tudo a arder, pessoas aflitas e a chorar, mangueiras, “falta de meios”... Ou a queixa (disparatada, mas compreensivelmente desesperada) de que “não se vê um bombeiro”, como se fosse possível ter bombeiros em cada esquina de um perímetro de 100 quilómetros de incêndio.
O que precisamos não é de uma informação monotemática: agora é a pandemia, a seguir uma tragédia, depois o futebol, outra tragédia, mais futebol, no Verão chegam os incêndios, depois os abusos sexuais (que ainda são tema, mas parece terem desaparecido da agenda mediática), depois o futebol, depois os incêndios. Não, não queremos. Queremos um noticiário televisivo rigoroso, diversificado, aprofundado, sucinto (e já agora, que não tem de durar hora e meia).
Claro: há coisas muito mais graves na questão dos incêndios. A emergência climática, a incapacidade de fazer prevenção e boa gestão política, o ordenamento do território e das florestas, a ineficácia de muitas operações de combate (como se viu no recente incêndio na Madeira), a falta de civismo e cultura; e um longo etc.
Mas o que se passa no jornalismo televisivo também é importante. Estou com isto a criticar opções de (várias) pessoas que respeito. Por isso mesmo é que me sinto ainda mais obrigado, enquanto jornalista, a insistir contra várias das derivas que a profissão tem vindo a sofrer (por exemplo, também na amplificação que faz da extrema-direita e do discurso racista e xenófobo, em vez de os reduzir à sua expressão). Neste caso, precisamos, sim, de questionar os poderes públicos fora da “época dos incêndios”, ser inoportunos quando as decisões tardam, ouvir os especialistas que tantas coisas importantes têm a dizer. O que não precisamos mesmo é de ver chamas. Nem de dias inteiros de noticiários monotemáticos. Caso contrário, estaremos, com isso, enquanto jornalistas, a ajudar a incendiar o país.»
18.9.24
Amílcar Cabral
As colónias portuguesas estavam em guerra com o colonizador desde 1961, e o fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) era um dos principais líderes do movimento. Amílcar Cabral tinha a lucidez que hoje em dia escasseia, seja no discurso de alguns protagonistas políticos ou no debate público-digital em sociedade. Dizia: “Nós nunca confundimos o ‘colonialismo português’ com o ‘povo de Portugal’, e temos feito tudo para preservar, apesar dos crimes cometidos pelos colonialistas portugueses, as possibilidades de uma cooperação eficaz com o povo de Portugal, numa base de independência, de igualdade de direitos e de reciprocidade de vantagens seja para o progresso da nossa terra, seja para o progresso do povo português. O povo português está submetido há cerca de meio século a um regime que, pelas suas características, não pode ser deixado de ser chamado fascista. A nossa luta é contra o colonialismo português.”»
Incêndios: o país é o mesmo enquanto o clima piora
«A tragédia não foi maior porque estamos, no que toca ao combate aos fogos, melhores do que em 2017, quando houve um sobressalto nacional que permitiu que algumas medidas, muito menos do que as necessárias, avançassem. Apesar do que melhorou nos últimos anos, continuamos a ver falhas inaceitáveis, bem evidentes em tantos vídeos de pessoas a atravessar o fogo em estadas fundamentais e autoestradas. Não se repetiram algumas desgraças de 2017 por milagre. A comunicação preventiva à população também foi muito fraca, apesar dos avisos prévios, com dias, do IPMA e da Proteção Civil.
Estes fogos não chegaram a ser um tema propriamente político. De tal forma, que o governo se deu ao luxo de fazer um briefing do Conselho de Ministros sem direito a perguntas – um estilo que parece agradar a uma comunicação social anestesiada por um dever de “estado de graça” – e a ministra da Administração Interna desapareceu. Ao contrário do que vimos em 2017, a cobertura do Presidente foi total, ao ponto de ter presidido a um Conselho de Ministros, coisa que costuma ser reservada a momentos meramente simbólicos.
Talvez a ausência de aproveitamento político, no meio dos fogos, deva ser o normal. Mas ela só não se repete porque o ambiente político é muito diferente do dos quatro anos da “geringonça”, em que tivemos uma oposição de uma agressividade poucas vezes vista na nossa democracia constitucional. Que contrasta, aliás, com as exigências de moderação e sensatez que os seus principais atores fazem ao Partido Socialista.
Do abandono ao eucalipto
Voltando ao que interessa, o que ficou por fazer nestes anos é o essencial: a gestão florestal. Somos um país com grande parte do território abandonado e envelhecido, onde não é possível cuidar da floresta, dar-lhe rendimento e garantir a prevenção. Onde pessoas que detêm pequenas parcelas de terra vivem no local e outras não, sabem que as têm e outras não. Onde o Estado quase não tem floresta e a que tem é mal gerida. Onde não há ordenamento território e, portanto, não há ordenamento florestal. E a floresta, como é hoje gerida, não garante financiamento à sua preservação e à gestão de combustíveis finos.
Para alem do minifúndio e da ausência de gestão florestal, sobra o eucalipto por todo o lado. Uma árvore que não fazia parte da nossa tradição e clima é hoje a prevalecente. A área plantada de eucalipto é superior à de todos os outros países europeus juntos. 81% da área reflorestada depois de 2017, ano em que se disse que iríamos ter de aprender com os erros, são desta espécie. Se fizermos a justaposição dos mapas dos incêndios destes dois dias e da área de eucaliptal veremos uma coincidência quase absoluta.
É verdade que os eucaliptos são dos produtos economicamente mais sustentáveis na nossa floresta. Mas também são dos piores para incêndios. Com ventos 30 quilómetros hora, as folhas incineradas desta árvore são autênticas bolas de fogo que atravessam autoestradas e causam novas ignições e novas frentes.
Aparentemente, ainda não chega. O CEO da Navigator, António Redondo, defendeu, há muito pouco tempo, o aumento da área para a plantação de eucalipto em Portugal, de forma a garantir a sustentabilidade da empresa. Tratou-se de uma crítica às alterações à lei que tinha liberalizado a plantação de eucaliptos. Lei que fora da autoria do ex-secretário de Estado das Florestas, Francisco Gomes da Silva, que posteriormente se tornou diretor-geral da CELPA, que reúne os gigantes das celuloses em Portugal.
As alterações climáticas são agora
Nos cursos mediáticos intensivos destes períodos – e sobre fogos temos tido, infelizmente, muitas oportunidades para os frequentar –, aprendemos a regra dos três 30: temperatura superior a 30º, humidade inferior a 30% e vento superior a 30km/hora, a que podemos acrescentar 30 dias sem chover, é receita para o desastre. E a verdade é que esta combinação atingiu, em várias regiões do país, o primeiro lugar desde 2001.
Não é preciso muito para verificar os efeitos das alterações climáticas. Um relatório conjunto da Organização Meteorológica Mundial e do Serviço de Alterações Climáticas da União Europeia concluiu que o verão de 2023 foi o mais quente de que há registo na Europa. O centro da Europa está a viver das cheias mais brutais deste século. Uma semana antes, tivemos cheias dignas das monções no deserto do Sahara.
A Europa aqueceu mais rapidamente do que qualquer outra região nos últimos 30 anos. O relatório mostra que as temperaturas aumentaram, no continente, mais do dobro da média global nos últimos 30 anos – a um ritmo de cerca de 0,5 graus celsius por década. Pior: o que está a conduzir essa subida é o sul, como se percebe pela falta de água que se pode tornar comum no Algarve ou o anunciado fim da pastorícia na Sicília.
Como já escrevi várias vezes, nada disto é uma herança que deixaremos aos nossos netos. Já está a acontecer. São campos agrícolas destruídos, populações perdem casas e haveres, migrações forçadas, mortes prematuras, sistemas de saúde sobrecarregados.
Podemos reduzir risco da perda de vidas e de bens materiais, em condições cada vez piores. Não há como preparar territórios e forças de combate para este novo tempo. Algumas das florestas mais bem cuidadas do mundo, nos parques nacionais da Califórnia, já perderam, este ano, 4046 quilómetros quadrados em consequência dos fogos florestais. É isto todos os anos, nos EUA ou Austrália, com fogos que ficam ativos semanas a fio.
O crime não explica
De tantos temas, o que o primeiro-ministro preferiu tratar, por saber que é o mais popular e desvia do governo qualquer responsabilidade, foi o do crime de fogo posto. E fê-lo da forma mais populista possível, falando de interesses que sobrevoam o crime, com insinuações não concretizadas, impensáveis em quem lidera o governo. E dizendo que ia perseguir os criminosos, tarefa que cabe às forças policiais e à justiça. Confirma-se: Montenegro está sempre em campanha.
Claro que há fogo posto. Sempre houve. Mas Portugal reduziu em três quartos o número de ignições (temos um número de ignições semelhantes ao de Inglaterra). Apenas 1% das ignições são responsáveis por 90% da área ardida. Como disse o arquiteto paisagista Henrique Pereira dos Santos, na SIC Notícias, “o problema não é como o incêndio começa, é porque é que ele não para”.
O que é desesperante nestes debates é o empenho de tanta gente em desligar a causa da consequência. Lembro-me de, em 2017, ser trucidado por falar de alterações climáticas, como se fosse uma desculpabilização do governo. Se não falamos delas quando sentimos de forma mais dramática os seus efeitos, falamos quando? São, aliás, os mesmos que recusam a causa a serem mais vocais na responsabilização política pelas consequências.
Acontece o mesmo nos debates sobre a imigração: ela irá aumentar por causa das alterações climáticas e os que maior partido político tiram deste fenómeno são os que negam uma das suas causas. A razão para resistência é simples: é mais fácil responsabilizar os poderes públicos por não estarem preparados para as consequências do que participar numa mobilização geral para reduzir a pressão das causas.»
17.9.24
Dúvida genuína
Qual é a vantagem – e para quem – de as estações TV de notícias estarem permanentemente (quantas horas, há quantos dias?) a «tagarelar» sobre o drama dos incêndios?
Continuamos a ser um país frágil
«Passámos o Verão receosos de que um dia como o de ontem pudesse chegar. E foi logo pela manhã, na primeira reunião de redacção, que, por vários sinais, percebemos que esta segunda-feira iria contrariar o registo que fazia com que, até 31 de Agosto, este fosse o ano com menor área ardida da última década. Infelizmente, como sublinhava ontem António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, “as contas fazem-se no fim”. E o fim ainda não foi ontem.
Calor, vento, casas a arder, diferentes frentes de incêndio, numa região onde habitação e floresta se misturam, eram sinais mais do que óbvios para ficarmos em alerta e enviarmos para o terreno os meios que nos permitissem uma cobertura aproximada do que estava a acontecer. O céu alaranjado no Porto, as cinzas que começavam a cair longe do epicentro dos acontecimentos, era a confirmação do dia de angústia que se seguiria, com um país cortado ao meio pela dimensão dos incêndios que, na hora em que se escreve este editorial, estão longe de estar terminados.
Como continuarão muito longe os dias em que poderemos passar um Verão sem sobressaltos, porque este é um país frágil, sempre que a questão é ir ao âmago dos problemas. É isso que explica no nosso podcast P24 o ex-secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural Miguel João de Freitas, que entre 2016 e 2017 co-assinou um conjunto de diplomas que ficaram a ser conhecidos como a Reforma da Floresta. Desde aí, afirma, foi feito muito trabalho em matéria de meios de combate ao fogo, foi feito muito trabalho na prevenção, mas “ficou por cumprir aquilo que era essencial, a gestão florestal”. E sublinha: “Se não tivermos um território que esteja gerido, a qualquer altura podemos voltar a ter fogos da dimensão dos de 2017.”
Depois da tragédia de Pedrógão, estávamos obrigados a fazer melhor, mas estamos ainda muito longe de resolver um problema que o aquecimento global só veio agravar. Enquanto não conseguirmos que a gestão do território seja um desígnio nacional, vamos estar sempre aquém do que é necessário para que não aconteçam dias como o 16 de Setembro de 2024.
Que pelo menos este dia, marcado já pelos enormes prejuízos materiais e pela perda de vidas humanas, sirva como impulso para olhar para os programas que já existem e que precisam é de força política e de dinheiro para serem realidade no terreno. Sem isso, sem um Governo que assuma a centralidade desta prioridade, continuamos a ser um país frágil, à mercê de uma rabanada de vento que desperte novamente o inferno.
16.9.24
Nuno Melo e Olivença
«O entusiasmo visível no rosto do ministro da Defesa ao falar do assunto não vai provocar qualquer incómodo nas relações luso-espanholas. É improvável que venha a ter qualquer influência, até pelo silêncio que se lhe seguiu do primeiro-ministro e do ministro dos Negócios Estrangeiros e do quase mea culpa que Nuno Melo fez ao dizer que não estava a falar em nome do Governo. Mas o discurso de Olivença vem demonstrar uma coisa que uma parte dos portugueses já tinha percebido: a morte do CDS ou a sua absoluta irrelevância no panorama político nacional.
A coligação AD salvou o CDS, permitindo-lhe eleger um grupo parlamentar. Nuno Melo costuma dizer que é graças ao CDS que a AD está no Governo (ou seja, o PSD tem o mesmo número de deputados que o PS, mas a AD elegeu dois do CDS), mas é uma afirmação que não tem contrafactual. Se o CDS fosse sozinho a votos, iria eleger algum deputado? As legislativas de 2022, quando o CDS elegeu zero deputados, foram um sinal bastante explícito.»
Para Olivença rapidamente e em força
«O direito à soberania portuguesa sobre Olivença foi voluntariamente reconhecido por Espanha num tratado assinado no século XIX. Assim como a retrocessão do território. Depois disso, a disputa fronteiriça foi voluntariamente obscurecida por Portugal por ser, ela própria, anacrónica. Membros da União Europeia e com a espanholidade de Olivença totalmente cimentada, o seu significado é menos do que simbólico.
Não é seguramente uma exigência dos oliventinos, que vivem em Espanha e não parecem querer viver noutro lugar. Podem ter dupla nacionalidade e, com uma população de quase 12 mil habitantes, só 746 fizeram essa opção, desde que tal passou a ser possível, há 10 anos. Não parece que se sintam ocupados. Consideram-se espanhóis, acarinhando a sua origem portuguesa. Este debate nem sequer é levado a sério pelos próprios. E nada há pior para uma causa ser uma piada, por mais legitimidade histórica e jurídica que tenha.
No que toca a Olivença, a prioridade portuguesa deve ser a preservação do património cultural e linguístico. Apesar ainda faltar muito a fazer, houve alguns avanços. Mas isso também depende empenho e do investimento de Portugal, que parece ter mais apetência para proclamações patrióticas anacrónicas do que para investir na sua influência cultural, como é evidente nos PALOP.
É curioso ver como o patriotismo da nossa direita se concentra sempre na soberania do passado, desprezando sempre a do presente. Onde estava o CDS quando a nossa Rede Elétrica Nacional foi vendida ao regime chinês, pondo em causa uma infraestrutura sensível para a nossa economia e independência? Onde estava o CDS quando vendemos os nossos aeroportos a uma empresa francesa em termos que impedem decisões estratégicas para o futuro das nossas ligações ao mundo? Onde está o CDS quando aceitamos que, mesmo sem desvios orçamentais, a Comissão Europeia tenha poder sobre o que fazemos com o dinheiro dos nossos próprios impostos? Onde estará o CDS quando se debater a distribuição territorial do esforço de investimento que Draghi defende para a Europa? Onde esteve, está e estará o CDS quando Portugal se limita ao papel de “bom aluno” de outros? Para esta direita, a pátria existe na memória colonial, na defesa de Olivença, no saudosismo da grandeza passada. Morre quando falamos da nossa independência presente e futura. É um patriotismo de museu.
À declaração do ministro da Defesa, apenas reagiu, com enorme elegância e sentido diplomático, o alcaide de Olivença, escrevendo que no município se trabalha “para aquilo que nos une, que é muito mais do que aquilo que nos separa numa fronteira que está misturada há décadas”. Felizmente ou infelizmente, ninguém quer saber o que diz o nosso ministro da Defesa. Nem no Ministério dos Negócios Estrangeiros se abriu a boca.
A gravidade não é o que foi dito, que até corresponde a uma verdade formal, apesar da afirmação política de que “não se abdica” de “direitos quando são justos” ser politicamente inconsequente. Grave é o ministro da Defesa voltar a meter a foice na seara alheia, desta vez na do ministro dos Negócios Estrangeiros. E, depois disso, para corrigir o tiro, dizer que o fez como líder do CDS, com militares atrás e enquanto presidia à cerimónia dos 317 anos do Regimento de Cavalaria 3, em Estremoz.
Compreende-se a angústia de Nuno Melo. Hoje, o CDS é os “Verdes” do PSD. Não tem espaço identitário. O seu populismo fiscal foi ocupado pela IL. O seu populismo contra imigrantes e beneficiários do RSI foi ocupado pelo Chega. Os dois com muito maior eficácia. A sua agenda conservadora é dominante no PSD, que, com a liderança de Montenegro, lhe dá cobertura. E a democracia-cristã sensível à doutrina social da igreja fugiu do partido há muitos anos, com pessoas como Rosário e Roberto Carneiro. Sobra ao CDS a sua atazagorafobia, um medo patológico de ser esquecido ou ignorado.
O CDS já não existe. Está diluído no PSD, que agora se chama AD para se livrar da memória do passismo que Montenegro elogia, mas sabe ser tóxica. Quis tanto fugir do seu próprio passado que foi ao baú e pôs o impagável Melo na lapela e o inapresentável Câmara Pereira no bolso.
De vez em quando, Nuno Melo tem de dizer uma coisa que o PSD não diria. Desta vez, foi importunar os pobres oliventinos. Aborrecido é o grito de soberana paixão pelo território perdido, que em Espanha quer estar para o resto da sua existência, seja feito com homens fardados atrás. A culpa é de quem deu um ministério relevante ao líder de um partido defunto. Os mortos às vezes falam. Mas, estando mortos, a cabeça já não é o que era.»
15.9.24
Vale dos Judeus, para lá da escada
«O único debate público que se faz realmente em Portugal sobre o sistema prisional é o das suas condições de segurança. Só se fala de prisões quando há evasões ou quando interessa a alguém que se fale dos telemóveis ou das drogas que entram nas cadeias. Do que não se fala, nunca, é do estado calamitoso do edificado do parque prisional, é da inexistência de uma política de reinserção social minimamente séria e efetiva, é da precariedade da prestação de cuidados de saúde aos detidos e da precariedade de quem os presta, é das celas-camaratas, é do buraco negro de direitos e de legalidade que são as prisões em Portugal.
Há algo de decisivo a montante da discussão sobre o sistema prisional. É que, numa democracia adulta, as prisões deviam ser apenas uma componente – e certamente não a principal – de um sistema de execução de penas em que a privação da liberdade fosse a exceção e não a regra. Se a taxa de encarceramento em Portugal (121/100.000 habitantes) é um pouco superior à média europeia, somos o país do Conselho da Europa em que o tempo de prisão cumprida é mais longo (média de 30,6 meses), mais do dobro da média europeia. Estes números mostram o desinvestimento nas penas alternativas à privação da liberdade e a capitulação social e política perante as tendências de reforço do “músculo” carcerário e até da fragilização de garantias elementares do processo penal. As teses do Direito Penal do inimigo ou, mais genericamente, o senso comum vingativo perfilhado pelo populismo penal, foram fazendo caminho em Portugal e isso é um dos rostos da hegemonia dos ideários anti Estado Social.»
José Manuel Pureza
Continuar a ler AQUI.
15-16.09.1973 – Quando mataram Víctor Jara
Víctor Jara foi assassinado em 15 (ou 16) de Setembro de 1973, poucos dias depois do golpe em que morreu Salvador Allende.
No dia 11, estava nas instalações da Universidade, que foram cercadas por militares, sendo depois transportado para um Estádio transformado em campo de concentração, onde foi torturado e assassinado.
Finalmente, em Agosto de 2023, o Supremo Tribunal do Chile condenou a 25 anos de prisão sete militares na reserva e o director do Serviço Prisional na altura pelo sequestro e homicídio de Víctor Jara.
Poucas horas antes de morrer, escreveu o seu último poema – «Somos cinco mil» – que chegou até nós graças aos seus companheiros de cativeiro:
.
Magnatas do metro quadrado
«A procura de petróleo sempre foi sinónima de carteiras recheadas. É gerador de riquezas, impulsionadora de luxos e equivalente ao negócio de ouro e diamantes. Mas hodiernamente, o verdadeiro luxo mede-se em metros quadrados.
Construir na horizontal transformou-se um luxo do interior; construir em altura converteu-se no sonho dos mais recentes magnatas do litoral. Um negócio que transformou muitos inquilinos em verdadeiros patrões, afinal, no fim do mês é um ordenado a ser pago ao senhorio. Um senhorio que quase virou funcionário...
Aperaltados, senhores de si, barba feita, cabelo arranjado, fatinho de marca e carro jeitoso, são senhorios que fazem parte da nova aristocracia, os detentores do mercado imobiliário.
Morar sozinho converteu-se num luxo, o truque é ter amigos e com sorte sair em casal. Fins-de-semana transformaram-se numa proibição, afinal muitos querem usufruir do seu investimento mensal. Fora esse mais pequeno.
As imobiliárias fogosas por vender... Casas que antes valiam menos que um pote de azeite, hoje são arrematadas a preço de lagar. Do oito ao oitenta.
No ato da escritura, o trabalhador contenta-se com a compra do apartamento, o rico fica alegre com a compra do andar. E as diferenças partem por aí. No cerne da questão: o metro quadrado tornou-se um gerador de riqueza. O investimento deveria ter sido pensado no momento da brincadeira de infantário, sabia-se lá...
Metros quadrados a serem vendidos por quatro dígitos, num país onde o ordenado mínimo ainda se contenta com três. O interior a querer preços de litoral e o litoral a querer preços das maiores avenidas e vistas de Paris. Locais geradores de trabalho, mas não criadores de empregos, dissuasores de matérias de faculdade e incentivo aos três dígitos, empurrando serenamente os novos adultos para fora e atraindo os antigos adultos para a miséria.
Tal foi o incentivo ao produto nacional, que a valorização do metro quadrado português disparou... De facto este país sempre foi muito inteligente, procriador de ótimas matérias, contudo, exportadas e compradas finalizadas.
Já diria a lei n.º 83/2019, lei de bases da habitação, que prevê o direito à habitação para todos, mas que, na prática, parece estar apenas a incentivar a venda de material de campismo. Estamos perante os novos magnatas, os verdadeiros senhores do tesouro português.»
Subscrever:
Comentários (Atom)