.
16.3.24
16.03.1974 – O falhanço das Caldas
Há meio século, o golpe falhado das Caldas foi um passo importante para a queda da ditadura.
Mais informação, a nota oficiosa emitida pelo governo sobre os acontecimentos e um curto vídeo da última «Conversa em Família» de Marcelo Caetano, na qual se refere ao tema, AQUI.
,
Protesto e as formas de o debelar
«Dizem, portanto, que foi um voto de protesto. Que o eleitorado apostou em discursos de rutura e na punição do sistema. Que as razões há muito que estavam lá – um mal-estar que se entranhou na sociedade portuguesa, nos segmentos sociais com vida dura, descrentes de instituições corroídas e de uma democracia que não os sabe ouvir.
Tudo isto cabe certamente numa leitura sobre os resultados eleitorais de domingo. Explica a queda vertiginosa do PS, dois anos apenas desde a sua maioria absoluta. Explica a recomposição à direita, em que a AD ganha as eleições com o pior resultado da história dos partidos que a compõem. E explica a subida estratosférica do Chega, que aconteceu em todo o país: no interior e no litoral; nos centros das cidades, nas periferias urbanas e nos espaços rurais; nas freguesias ricas e nas freguesias pobres. Esse voto, além de atestar a “normalização” da extrema-direita na política portuguesa, mostra também que anseios e orientações políticas provavelmente contraditórias se juntaram num voto entendido como “contra” a situação.
Não há, portanto, uma razão para esta explosão do Chega – há várias. Para além das dimensões xenófobas e autoritárias, este voto também teve causas sociais e económicas, como tem sido apontado em reportagens de jornalistas, por analistas e políticos. Ou seja, que o voto na extrema-direita é um protesto contra a pobreza, os baixos rendimentos e a ausência de perspetivas de melhoria de vida.
É bem possível. Recentemente, a Pordata indicava que cerca de 1/3 das famílias em Portugal vivia com 833 euros por mês. Quase um quinto dos portugueses vive em situação de pobreza. E o país é marcado por uma enorme desigualdade na distribuição de rendimento, quando comparado com o contexto europeu. Se o voto no extremismo veio da raiva contra a pobreza e os baixos rendimentos, a questão a colocar é: como vai o mais que previsível futuro governo da AD combater esses problemas no novo ciclo político.
Uma coisa é certa: não será com mais apoios do Estado. Montenegro foi claro durante a campanha que é contra a “subsidiodependência”. Até o subsídio de desemprego o líder da AD fez questão de atacar, como se de uma benesse se tratasse, quando a sua existência resulta de descontos dos próprios trabalhadores e funciona como um seguro para uma situação de desemprego involuntário (ninguém se pode autodespedir e ter subsídio). Com o novo governo, a pobreza não será combatida com prestações sociais ou apoios do Estado.
Se não é com apoios, deverá ser então através de salários mais elevados. Mas não será pela subida do salário mínimo. Os partidos da AD sempre foram contra aumentos do SMN, e disseram mesmo que seria o descalabro na economia portuguesa. A IL, guardiã dos livros sagrados do neoliberalismo, propõe, por exemplo, estilhaçar o SMN em salários mínimos municipais e negociados com o patronato.
Talvez os salários possam subir se a economia crescer? É bom notar que, no último trimestre de 2023, os dados mostram que Portugal foi mesmo a economia que mais cresceu na zona euro. Aliás, a economia portuguesa tem vindo a crescer continuamente desde 2014, com a exceção óbvia do ano da pandemia. Contudo, o padrão de baixos salários não se alterou. Se a pergunta é se podemos crescer ainda mais, a resposta é que parece difícil, num contexto europeu de retração, porque menos crescimento na Europa significa menos exportações para Portugal, sejam elas de bens ou de serviços.
E se déssemos “a volta à economia”, libertando-a do “excesso” de presença do Estado, como alguns têm dito? Este é um remédio que me parece difícil de aplicar no ano de 2024, quando já “retirámos” o Estado da economia nos últimos 30 anos. Privatizámos a energia, as telecomunicações, a banca, o cimento, as infraestruturas (rodoviárias e aeroportos). Até a rede elétrica, onde não há concorrência possível, foi vendida à China, e nem nos EUA os correios são privados. Desregulamentámos e liberalizámos esses mercados, como vários governos anunciaram com gáudio. Parece-me difícil dizer hoje que os problemas da economia portuguesa e os baixos salários são culpa da existência da CGD, da TAP (em vias de privatização) ou da CP.
As privatizações de que eles falam, aliás, são de outro teor. É a privatização das funções do Estado na saúde, na segurança social, na educação e no mais que estiver à mão. Há empresas que vão ganhar muito dinheiro do Orçamento do Estado, isso é certo. Se vai fazer crescer a economia e chegar ao bolso dos portugueses é outra questão.
Talvez faltem estruturas que potenciem a atividade económica, ligações e mobilidade para o desenvolvimento das empresas. Nos últimos 30 anos, o Estado, em parcerias público-privadas, ligou o país com pontes e autoestradas que, por vezes, até correm paralelas.
E também a questão da qualificação da mão-de-obra foi enfrentada pelo Estado e resolvida pelo ensino superior público. O problema é que essa nova geração qualificada tende agora a “fugir” do país em busca de melhores salários. Dizem que se baixarmos os impostos, os jovens deixam de emigrar. O PS aceitou esse argumento e já implementou o IRS jovem. Contudo, um estudo da FFMS indicava que 72% dos jovens ganham menos 1.000 euros líquidos. Mesmo sem IRS, a margem de aumento de rendimento disponível é tão curta que não vejo como isso possa ser sedutor.
Se baixarmos o IRC das empresas, estas podem aumentar salários. Cerca de metade das empresas não pagam IRC, pouquíssimas pagam a taxa máxima, como aliás a sua queda em relação ao PIB nos últimos anos tem vindo a mostrar. Não foi por isso que abandonámos o perfil de economia de baixos salários.
Mas talvez a redução de impostos possa atrair investimento estrangeiro que qualifique o perfil da economia. O Banco de Portugal mostrava recentemente que Portugal não tem um problema na atração de investimento estrangeiro – entre 2008 e 2023, o IDE duplicou. Só que tem sido dirigido em larga escala para o imobiliário, sendo parte do problema da crise na habitação, e para o turismo, que é exatamente um dos setores onde se criou muito emprego, mas onde os salários são mais baixos…
Enfim. Estou em pulgas para saber como é que o novo governo responde à pobreza e mal-viver que os portugueses manifestaram com o seu voto no domingo.»
.
15.3.24
Miguel Pinto Luz quer acarinhar os que votaram no Chega
«Em entrevista, ontem, a este jornal, Miguel Pinto Luz afirmava que é preciso “acarinhar os 1,1 milhões de pessoas que votaram no Chega”. (…)
Votaram a favor da discriminação racial e xenófoba e em prejuízo das minorias, das mulheres e de qualquer progressismo social. Peço desculpa, mas não reconheço a ninguém o direito a esse tipo de rebeldia.
Não tenho propostas infalíveis para contrariar o crescimento de uma força política que traz ao de cima o pior da natureza humana e que engana os que são vulneráveis ao seu discurso. Em tempos quis ilegalizar o partido por estar prevista, na lei dos partidos, a extinção de forças políticas com as características do Chega. Agora suponho que seja tarde demais para tudo isso. O partido figura no boletim de voto como se fosse democrático e perdeu-se a oportunidade. É o que temos. Mas tenho a certeza que esta teoria de termos de ser condescendentes, e entretanto até carinhosos, com os eleitores do Chega é absurda. É, sobretudo, oposta a uma coisa simples a que estamos efetivamente obrigados: tratá-los com respeito.»
.
E agora, Sr. Presidente?
«Como era mais do que previsível, acordámos segunda-feira com um país ingovernável. Era previsível para qualquer um, mas especialmente para alguém como Marcelo Rebelo de Sousa, que passou uma vida inteira a acumular fama e proveito como imbatível leitor e construtor de cenários políticos, capaz de ler nos astros o que o comum dos mortais ainda não tinha descortinado na parede em frente. Deixemo-nos, pois, de meias-palavras: Marcelo não tem desculpa. Estamos como estamos porque ele assim o quis.
No “Público”, e na esteira de vários outros, Manuel Carvalho escreveu que “o prenúncio desta degradante democracia liberal estava à vista quando uma maioria se extinguiu à luz dos indícios de corrupção”, pelo que “Marcelo fez o que a sua consciência lhe ditava e que o grosso da opinião publicada lhe exigia”. Pois, o problema é que o grosso da opi¬nião publicada tomou por indícios de corrupção o que não leu com atenção ou não percebeu, e, no mais, um Presidente deve guiar-se por aquilo que, em cada momento, quer a opinião pública, e não a opinião publicada. Até porque, em contrário, há quem diga mesmo que foi Marcelo quem sugeriu a Lucília Gago que introduzisse no comunicado da Procuradoria-Geral da República o tal parágrafo que ambos sabiam que levaria à imediata demissão de António Costa. Eu não acompanho essa teoria da conspiração ou do maquiavelismo, mas continuo a perguntar-me o que se terá passado na conversa entre o Presidente e a procuradora-geral que antecedeu a demissão do primeiro-ministro: terá Marcelo exigido saber, como lhe competia, o que havia de sólido nas suspeitas em relação a António Costa? E, em face disso — que era nada, como concluiu o juiz de instrução —, conformou-se com a execução pública do PM às mãos da PGR e com a sua demissão? Isto feito, e mal feito, com que legitimidade constitucional optou por recusar o nome indicado por António Costa para lhe suceder na chefia do Governo ou, em alternativa, pedir ao PS que indicasse um nome, como se faz em todas as democracias normais? Quem disse a Marcelo que em 2022 os portugueses tinham votado apenas em António Costa, e não também no PS, e que, se por qualquer razão ele não terminasse o seu mandato, preferiam eleições antecipadas e desembocar na situação que temos agora? A que deve ele obediência: às suas inclinações partidárias, às suas interpretações políticas ou às regras da Constituição da República? E, já agora, para que lhe serviu a opinião de um Conselho de Estado rigorosamente dividido a meio sobre o caminho a seguir? Apenas para o desprestígio acrescido de ver dois dos conselheiros, por si nomeados e ligados à AD, votarem pela convocação de eleições e depois aparecerem a fazer campanha eleitoral pela mesma AD...
Não, Marcelo não tem desculpa. Trata-se de alguém que passou anos a defender o valor da estabilidade e da previsibilidade dos mandatos levados até ao fim. Que, nos últimos dois anos, disse e repetiu que nada poderia pôr em causa o ritmo de execução do PRR — a última grande oportunidade de financiar o desenvolvimento do país com dinheiros europeus —, chegando a dizer a uma ministra que não lhe perdoaria um só dia de atraso. E, afinal, manda tudo ao charco em duas penadas e cavalgando uma insustentável ficção processual do Ministério Público relativamente ao PM — que, isso sim, devia preocupá-lo, e muito. Interrompe uma governação antes ainda do meio do seu termo, paralisa o país durante meses, lançando o alerta em Bruxelas, e dá-se ao luxo de deitar borda fora aquilo que qualquer país europeu hoje mais preza: uma maioria absoluta de um partido dentro do sistema democrático. Hoje podíamos ter à frente do Governo alguém como Mário Centeno, o nome que António Costa levou a Marcelo e que este recusou: alguém que nem sequer era filiado no PS, que conhecia o Governo e as finanças, que tinha provas dadas aqui, conhecimento e prestígio lá fora. O país não teria parado, o PRR e os principais dossiês não estariam paralisados e, sobretudo, aqueles que ainda se esforçam por acreditar num futuro para Portugal não experimentariam mais uma vez a decepção de ver a vida a andar para trás, a sua e a de Portugal, porque lá em cima se anda a brincar com coisas sérias para satisfação de protagonismos ou de impulsos infantis.
Mas não é apenas a instabilidade governativa que eu não perdoo a Marcelo. Mais ainda do que isso, o que não lhe perdoo é ter soltado a besta presa na cave, a besta da demagogia: o Chega. Por mais análises que me forneçam sobre as razões sociológicas e políticas do milhão e cem mil votos do Chega, algumas certamente pertinentes, há uma que desde logo o justifica: a compra de votos. O Chega comprou votos, comprou muitos votos, e comprou-os com uma campanha de demagogia despudorada e irresponsável. Contem-nos: nas forças policiais e respectivas famílias são 100 mil; nos reformados, a quem prometeu, pelo menos, uma pensão equivalente ao salário mínimo, mesmo para quem não contribuiu, serão uns 300 mil; nos professores, a quem prometeu tudo o que reclamam, dos 120 mil terão cativado uns 30 mil; nos agricultores outro tanto, e por aí fora, tudo junto somando metade do milhão e cem mil votos de André Ventura. Num país onde tantos se habituaram a exigir tudo do Estado e tão poucos se perguntam quem e como pagará, o discurso de Ventura está condenado ao sucesso, muito mais do que o racismo, a xenofobia, o autoritarismo e tudo o resto a que, por preguiça, gostam de o reduzir. O sucesso eleitoral de André Ventura chama-se demagogia à solta, e o pior de tudo é que, por competição e por sobrevivência, ele contagiou em larga medida todos os outros. Como aqui escrevi há duas semanas, o rol de promessas eleitorais, associado à conjuntura internacional, torna Portugal ingovernável: ou porque não serão cumpridas e serão então cobradas nas ruas e nos serviços públicos, ou porque serão cumpridas e nos levarão à falência.
Quando recusou a solução de estabilidade governativa que o país esperava e que ele próprio tinha apregoado durante tanto tempo, preferindo antes lançar o país numa aventura eleitoral desnecessária e de efeito previsível, Marcelo sabia ao que ia. Mas não se conteve, porque há muito que ele ia dando sinais de incontinência, aliás com ameaças explícitas. E não venham cá com o desgaste dos “casos e casinhos”, porque no mais grave deles — o caso Galamba, onde Marcelo entrou em choque frontal com o PM, exigindo publicamente a demissão do ministro — ainda estou para perceber qual é a responsabilidade de um ministro que demite um assessor que se recusou a entregar uns documentos exigidos por uma Comissão Parlamentar de Inquérito e depois, sem mais qualquer intervenção da sua parte, vê o assessor invadir à força o gabinete, roubar o computador de serviço e levá-lo para casa, só o devolvendo a um agente do SIS e por intervenção de outro membro do Governo. Mas, ainda que a razão fosse os “casos e casinhos”, a renovação do Governo com a indigitação de outro PM, e exterior ao PS, esvaziava o argumento.
Não, a verdade é outra: o cargo deve ser profundamente aborrecido para quem gosta de viver a vida. O primeiro mandato presidencial acredito até que possa ser estimulante e apelativo: andar por aí a conhecer o país e as pessoas, dar beijos e abraços, ser recebido com a despreocupação de quem só pode prometer o bem e não fazer o mal, viajar lá fora e conhecer os grandes do mundo, escutar o hino com a herança de quase nove séculos às costas. Mas, isto passado, o segundo mandato é mais do mesmo e, sendo o tédio mau conselheiro, a tendência para a asneira torna-se inevitável. Mas nenhum resiste à tentação do segundo mandato, nem mesmo alguém como Mário Soares, que tinha tão mais vida do que aquela que cabia nas paredes de Belém. No primeiro mandato vimos o melhor de Marcelo, um contagian¬te suspiro de alívio depois dos anos de chumbo da majestade cavaquista; no segundo, estamos a assistir ao seu pior, à facilidade com que os grandes princípios degeneram numa absoluta vacuidade. Prejudicial ao país. Mas, enquanto o tempo não passa e isto não tem fim, fica a pergunta a que só ele tem obrigação de responder: e agora, Sr. Presidente, como é que nos tira desta embrulhada onde nos meteu? Dia 15 de Março, sexta-feira, cinco dias depois do acto eleitoral, ainda nem sequer sabemos quem ganhou as eleições e se quem ganhou quer mesmo governar.»
.
14.3.24
Uma solução masculina
«Considerem-se as frases deste tipo: “Sem X não há democracia.” O X tem de ser importantíssimo. O X tem de ser decisivo, para se dizer que não há democracia sem X. Que X será este? Será sufrágio universal? Será liberdade de expressão?
Assim se deve ler o que disse Marcelo Rebelo de Sousa no Dia da Mulher: “Sem verdadeira paridade de género, não há democracia.”
Só falta imaginar que ele primeiro escreveu: “Sem paridade de género, não há democracia.” Mas depois pensou em todas as situações anunciadas como respeitadoras da paridade do género, mas que contêm, mais mal ou bem escondidas, grandes discrepâncias e injustiças, e decidiu acrescentar o adjectivo que fazia falta: “verdadeira”, para se ver que se estava a falar da verdadeira paridade de género, e não da fingida.
Proponho uma solução masculina, bruta e simples, para resolver o buraco salarial entre homens e mulheres. Mesmo na União Europeia, com toda a conversa, continua a ser superior a 10 por cento. A culpa, diz-se num relatório oficialíssimo, com cara séria, é sectorial: as mulheres ganham menos nos sectores em que se candidatam muito mais mulheres do que homens.
A minha solução, de 1 de Maio de 2024 até 1 de Maio de 2026, era nós, homens, recebermos exactamente o mesmo que recebem as mulheres. Ou seja: menos. O dinheiro que sobrasse — descontado dos ordenados dos homens — ia para um mealheiro gigante a construir nas praças principais de todas as cidades, onde ficaria a amontoar até ao 1 de Maio de 2026.
Nesse dia, passaria a ser proibido falar de homens e mulheres quando se fala de vencimentos. Só se poderia contratar seres humanos e os seres humanos teriam, obviamente, de receber todos o mesmo ordenado. A desculpa sectorial desapareceria: todos os sectores ficariam abençoados com uma composição 100 por cento humana.
Os dois anos de paridade forçada seriam suficientes para os homens saberem como elas mordem. E perceberem que a humanidade é o único critério justo.»
.
13.3.24
13.03.2010 – O dia em que Jean Ferrat morreu
Jean Ferrat foi um dos grandes franceses da canção e já passaram catorza anos desde que parou. Depois de Léo Ferré, Georges Brassens, Jacques Brel e alguns outros.
Representante típico de gerações de intérpretes politicamente comprometidos, para sempre ligado a Nuit et Brouillard e a tantos outros títulos, o eterno "compagnon de route" do Partido Comunista Francês, que não hesitou em denunciar a invasão de Praga em 1968.
Clicar AQUI para ver e ouvir alguns vídeos.
.
.
O Chega tinha de vir e aqui ficará até o sabermos explicar
«Durante vários anos prevaleceu a tese, com a qual nunca concordei, da especificidade portuguesa e de como ela nos deixava e deixaria imunes aos encantos da extrema-direita. Esta espécie de nova versão do luso-tropicalismo, que nos tornaria únicos no contexto internacional, ignorou que os indicadores de aceitação do discurso populista e da aceitação de valores propagados pelos partidos de extrema-direita sempre estiveram cá, o que faltava era um protagonista. Num artigo prescientemente intitulado “Populismo em Portugal: um gigante adormecido”, Pedro Magalhães já o dizia há cinco anos: “Para que seja consequente, o populismo depende não apenas de uma procura social, que em Portugal claramente existe, mas também de uma oferta política e de oportunidades. Por outras palavras, precisa de ser “ativado” politicamente”.
André Ventura, crescido e formado dentro do PSD, aceitou dar o passo que Manuel Monteiro ou Paulo Portas nunca ousaram. Estes últimos dois líderes do CDS também piscaram o olho ao discurso contra os supostos subsídio-dependentes, que vivem “à nossa custa”, mas nunca o associaram diretamente aos ciganos. Foi sempre um discurso ambíguo, mais sugerido e insinuado do que abertamente proclamado, permitindo a Paulo Portas um populismo light, mas mantendo-se dentro do sistema. Ventura rasga esse compromisso, achando que volta a entrar no sistema pela força bruta dos votos de quem exige que se digam “umas verdades”.
É esse passo que o faz, pela primeira vez, ir buscar o exército que vinha engrossando a abstenção nas últimas décadas. Ainda é cedo para perceber a dinâmica de transferência de votos entre partidos, mas parece evidente que Ventura vai uma boa parte do seu milhão de votos à abstenção. A similitude entre o aumento de número votos do Chega com o crescimento do número de votantes é um sinal, mesmo que ténue, mas ainda maior é o dos concelhos onde mais cresceu a participação eleitoral terem uma significativa correlação com os locais onde o Chega teve votações mais elevadas. Ouvi esta história em terceira mão. Para explicar o seu voto, um homem disse: “Dantes abstinha-me para protestar. Agora, votei no Chega”. Os números batem incrivelmente certo.
O primeiro-ministro em funções não foi a votos, o que acontece apenas pela segunda vez nos últimos quarenta anos, depois de ter sido associado pela Procuradora-Geral da República a um processo de corrupção. Com um mandato interrompido a meio, as eleições acontecem num contexto de uma crise inflacionária que varreu a maioria dos governos nos últimos dois anos, com um secretário-geral do PS sem tempo para se afirmar e os juros a agravar a crise do poder de compra. Com isto tudo a seu favor, seria de esperar um resultado histórico do PSD. E foi, na verdade. Foi o pior resultado de sempre dos partidos que constituem a AD.
O resultado da AD é, contando com os votos na Madeira, inferior ao de Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, dois anos antes. Onde a AD, com todas as siglas com que se candidatou, conseguiu agora 29,49% dos votos, PSD e CDS mereceram a confiança de 30,89% dos eleitores em 2022. Se é certo que conquistou qualquer coisa como 200 mil votos a mais, apenas ganhou mais três deputados. A AD venceu apesar de Montenegro e da sua campanha. O único dado relevante sobre a vontade de mudança que levou à perda de quase meio milhão de votos no PS foi mesmo a votação em André Ventura e no Chega.
O Chega muda o quadro político nacional, obrigando a geometrias parlamentares muito mais complexas, tornando a governabilidade uma quimera quase impossível (tratarei disso na sexta-feira). Há dois anos disse que o Chega, ao contrário da IL, tinha condições para crescer e se afirmar como uma força política determinante. Porque corresponde ao clima político que se vive um pouco por toda a Europa e nos EUA e porque o seu discurso encontra um público recetivo.
Não vou, neste texto, tentar analisar as razões para os 18% do Chega. Aprendi, do muito que vou lendo e ouvindo sobre o tema, que só há duas coisas seguras nas explicações que cabem num texto curto: são sempre incompletas e correspondem quase sempre àquilo que nós queremos que o “protesto” queira dizer. Acredito que há uma confluência de razões transversais às sociedades ocidentais, ou o fenómeno não seria transversal, atingindo países radicalmente diferentes nas suas condições económicas, sociais e políticas. Há aumentos de desigualdade económicas; a falência do capitalismo globalizado como projeto de progresso partilhado; novas formas de mediação incompatíveis com a democracia que conhecemos; novas identidades sociais que valorizam as mesmas coisas que a extrema-direita sempre valorizou (desculpem ir contra a corrente, mas há muito mais do que 19% de racistas em Portugal e em qualquer país do mundo); consciência da inconsequência do voto em governos que decidem cada vez menos... Uma coisa é certa: cada um terá a explicação que lhe der mais jeito para a sua própria agenda, responsabilizando sempre o seu opositor por este fenómeno.
As redes sociais não são um pormenor. Elas polarizam a vida política a níveis impensáveis há poucas décadas. Com algoritmos que privilegiam os conteúdos mais virulentos, criando bolhas onde cada pessoa só vê conteúdos que confirmam a sua perceção da sociedade, a extrema-direita encontrou terreno fértil para propagar as “suas verdades”. A utilização hábil destas ferramentas, conjugada com uma juventude que abandonou o jornalismo como fonte de informação, explica que o Chega seja o segundo partido mais votado na faixa etária entre os 18 e os 34 anos.
O Chega, ao contrário de uma IL concentrada nos grandes centros urbanos, é um partido nacional e mais ou menos homogéneo. Ventura consegue eleger deputados em todos os círculos eleitorais, menos em Bragança, e é bem possível que consiga furar a representação nos círculos da emigração, atendendo ao exponencial aumento do número de votantes. Com um resultado nacional de 18%, o pior desempenho que teve foi no Porto, com 15,3%, e na maioria dos distritos obteve sempre resultados muito próximos da média nacional. A exceção, claro, são os 27% no Algarve, onde foi a força política mais votada, ou os 24,5% de Portalegre, onde só ficou atrás do PS.
Não podemos olhar para o Chega como um partido cujo discurso encontra eco apenas no país desprotegido do interior, como foi dito durante algum tempo, quando vemos o resultado que tem nas grandes cidades. Os seus temas são nacionais, mesmo quando olhamos para a excelente reportagem que Valentina Marcelino foi fazer na freguesia com a maior votação no Chega, em Albufeira, no Algarve. É a falta de habitação, de perspetivas de futuro, ou de salários dignos e compatíveis com custo de vida, culpando e responsabilizando os os imigrantes pela compressão salarial. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, há presidentes de junta de freguesia a constatar o elevado número de brasileiros que pede informações sobre o recenseamento eleitoral para poder votar em André Ventura.
Pouco importa a amálgama reivindicativa, com temas muitas vezes contraditórios e alguns irresolúveis. O Chega transmite a ideia de protesto contra o regime. O seu tema principal na campanha, e nos últimos anos, tem sido o combate à corrupção. “Vamos limpar Portugal”, diziam os cartazes, e ainda assim o pior resultado do Chega no distrito de Lisboa foi precisamente em Oeiras, com 11,6%. Para quem não passou os últimos anos numa cave, Oeiras é o concelho onde o atual presidente da autarquia cumpriu pena de prisão depois de ter sido condenado a dois anos de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais.
A presença de imigrantes no bairro onde se vive também não parece determinar particularmente o voto. Nas freguesias com maior número de imigrantes na cidade de Lisboa, a votação no Chega ou ficou bem abaixo da média da cidade (9% em Arroios, 10% em Campo de Ourique), ou a par da média (12% em Santa Maria Maior). Das freguesias onde convivem os explorados da Glovo com os estrangeiros que compram as casas mais caras do país, até Campo de Ourique dos reformados franceses e jovens nómadas digitais, realidades sociais muito distintas, mas com resultados bastante uniformes. Mesmo em Odemira, epicentro da exploração de migrantes e concelho onde estes já representam mais de um terço da população, a votação não é superior à registada no distrito. O discurso repetido, e as perceções que o mesmo cria, parecem contar tanto ou mais que a realidade conhecida.
Há imensas razões para o crescimento do Chega em Portugal e de toda a extrema-direita em toda a Europa. Há até um eleitorado que sempre ali esteve e agora tem quem diga o que quer ouvir. Se eu soubesse a resposta para este fenómeno quase global quereria dizer que acreditava que ele resulta de um problema único e fácil de identificar. Uma das coisas que dizemos aos demagogos é que não há explicações e soluções simples para problemas complexos. Seria bom não fazermos o mesmo que eles para os explicar.
Mas sei o que não é solução: amarrar a um novo governo os democratas que têm o dever político de fazer oposição e de se apresentarem como alternativa, dando mais razões para que as pessoas acreditarem que o Chega é a única forma de “mudar”. Isso sim, seria um enorme disparate.»
.
Diálogo à esquerda?
P. S. – PS, PCP, Livre e PAN já deram resposta positiva a este apelo e vão reunir-se.
.
12.3.24
Do Outro Lado do Espelho
«A noite de eleições foi coberta por um espetáculo de superlativos que se inscreve na história com a pompa de um déjà vu crónico: a afluência às urnas atingiu picos nunca antes vistos: apoteose da participação democrática. A ascensão de uma terceira força ao pódio da representação nacional não se fez por menos, gravando-se nos anais como um feito sem precedentes. E, como se não bastasse, a margem que acabou por separar Luís Montenegro de Pedro Nuno Santos reduziu-se afinal a um fio tão ténue que quase nos faz questionar se houve mesmo um vencedor ou se saímos, afinal, todos empatados. É que há sempre um recorde, mais uma excepção, mais um feito sem paralelo – mas que raramente surpreende.
A curta vitória de Luís Montenegro é só isso – um feito do líder que arrasta os seus, quase a contragosto, para um triunfo ténue. A Aliança Democrática consegue escapar-se do entalanço entre duas forças nas suas pontas porque Luís Montenegro reconheceu o recentramento e reclamou-o para si, contra tudo e contra todos. Não ganhou, mesmo que à queima-roupa, porque Passos Coelho inspirou os reformados, nem pela acutilante pertinência de Paulo Núncio, nem mesmo pela temperança calculada de Oliveira e Sousa. Ganhou apesar de todas as vozes (certamente bem-intencionadas) que o desautorizaram.
E Montenegro já se apercebeu disso: no discurso de vitória, reafirmou o não é não, reiterou o compromisso de reconciliação com os pensionistas e manteve a moderação no discurso. Querendo sobreviver na corda bamba, sabe que tem de chegar ao Orçamento do Estado com o capital de confiança em alta, e conseguirá fazê-lo com medidas que possam ser implementadas sem passar pelo crivo da Assembleia da República – adiando, assim, confrontos diretos. Terá de emular Cavaco em 1985 e fazer campanha através do cargo, rezando por um erro à-la-PRD.
Para o Partido Socialista, o resultado dificilmente poderia ter sido melhor. Pedro Nuno Santos, acólito do mantra errar em ação, beneficia de uma derrota suavizada por expectativas já de si baixas. Depois de oito anos e de uma saída precipitada e nebulosa de António Costa, poucos lhes imputavam a responsabilidade de vencer. Se ganhasse, aliás, a governabilidade pareceria uma miragem – mesmo com a esquerda a estender-lhe a mão. Depois de uma campanha a promover valores vagos, entre a continuidade e mudança, mas a vender-se como um homem de ação, Pedro Nuno consegue o melhor de dois mundos: quase ganha, mas não perde totalmente.
A estreita vitória da Aliança Democrática permite-lhe ganhar fôlego para calibrar as fileiras socialistas, dá tempo a António Costa para que consiga sair ileso da saga judicial e, com sorte, ganhar as eleições europeias, e permite-lhe consolidar a confiança que lhe foi dada – tudo isto antes de dar o golpe final a Montenegro.
É que, ao contrário do líder da AD, Pedro Nuno Santos tem o privilégio mais raro da política: pode esperar. Não tendo ninguém à sua esquerda capaz de o engolir, pode replicar o jogo de paciência que ensaiou na primeira semana de campanha. O primeiro adversário de Luís Montenegro não será o PS, mas André Ventura – que, ao contrário de Pedro Nuno, ainda não clarificou se votará a favor de um Governo que não o inclua. O PS só terá de conseguir não interferir enquanto a Aliança Democrática navega águas turbulentas. A estratégia não é nova, mas raramente se apresenta tão oportuna: deixar o adversário enterrar-se com as próprias mãos, enquanto se assiste, pacientemente, do lado seguro da trincheira.»
.
11.3.24
A campanha solitária de Marcelo
O problema é que não sei se Marcelo, sendo de Direito, também é bom em Matemática. Seria uma raridade.
(Expresso)
.
Onzes de Março
Quem viveu aquele que a imagem recorda só tem razões para encarar o de hoje com alguma distância e muita serenidade. Tenho um neto que votou ontem pela primeira vez. Tanta estrada andada, tanta estrada para andar.
.
Bem gostava o Chega de assistir ao abraço de dois náufragos
«Chega era uma hecatombe previsível, talvez de dimensões ainda maiores do que o esperado, porque parece ter sido o principal motor para a queda da abstenção. Sobre as razões para este resultado, terei de escrever outro texto, com dados mais finos e ponderados dos resultados eleitorais – de onde veio exatamente aquele voto?
Há três dados incontornáveis: a esquerda tem o seu pior resultado de sempre, a AD tem uma vitória de Pirro (menos percentagem do que o PSD e o CDS juntos nas últimas eleições) e o PS tem uma derrota clara (sobretudo quando veio de uma maioria absoluta), ficando quase empatado com a AD.
O essencial é isto: a AD não consegue formar maioria sem o Chega e o PS, apesar de toda a esquerda ter mais do que a AD com a IL, não consegue formar uma “geringonça”. O debate sobre a tomada de posse de Luís Montenegro é o mais simples e o menos relevante. Basta que a esquerda não apresente qualquer moção de rejeição do programa para esse problema não ser um problema. A questão é, como me fartei de escrever, a viabilização do governo. Ou seja: a aprovação do Orçamento de Estado. Sendo certo que há um Orçamento em vigor e quem o aprovou não tem qualquer dever de o retificar, é no fim do ano que a questão se põe.
A pressão do centro-direita é e será a que se espera: que seja o Partido Socialista a viabilizar os governos de Luís Montenegro com Rui Rocha, uma situação absolutamente contranatura. Como ficou evidente no discurso de Luís Montenegro, quando deixou claro, com toda a legitimidade da vitória estreita (que a sua “alegria contagiante” demonstrou), que era o seu programa, oposto ao socialista, que ia ser aplicado.
Escrevi-o vezes sem conta: com um Chega inchado, PS e PSD suportarem governos do outro é garantir que o Chega lidera a oposição e cresce ainda mais. Mas quando escrevia isto era a pensar num Chega com 15%. O Chega conseguiu ultrapassar os 15,9% do CDS, em 1976; os 17,9% do PRD, em 1985; e ficou muito perto dos 18,8% da APU, em 1979. Não é apenas o terceiro partido. É um partido com todas as condições para liderar a oposição e recolher todo o descontentamento que venha a existir se lhe fizerem esse favor.
Quem defenda que o PS deve suportar um governo da AD e da IL não quer salvar o país e a direita do Chega, quer retirar ao PS o legítimo dever de liderar a oposição e abrir o caminho à sua decadência, libertando o Chega da pressão política que o obrigue a ser claro em relação aos seus eleitores. O Chega, pronto para mostrar ao país que o sistema se une contra si, agradeceria e continuaria a engordar. Olhem para a Europa.
Com a vitória de Pirro da AD e a derrota do PS, o apoio mútuo seria um abraço de dois náufragos, com morte certa por afogamento e o Chega a olhar seguro, do seu barco. Fez muito bem Pedro Nuno Santos em deixar tudo claro, para não abrir uma interminável novela de meses. Cabe à AD apresentar, em outubro, o Orçamento de Estado e deixar que o Chega escolha a queda do governo, pagando o preço por isso, ou aceitar que não está de fora o sistema, e pagar o preço por isso.
Como o BE e o PCP podem explicar, quem se assumir como suporte dos orçamentos deste governo será responsabilizado por uma crise política, quando deixar de o fazer. Não vale a pena pensar que é só por um ano ou dois. Como António Costa mostrou, é fácil escolher o momento para esticar a corda e obrigar à crise política. Se o PS se puser nessa posição, está a enfiar o pescoço nessa guilhotina e a libertar o Chega da responsabilidade de responder aos eleitores de direita. Quem defenda este caminho está objetivamente a ajudar ao crescimento da extrema-direita. Talvez numas próximas eleições o abalo fosse muitíssimo maior. Que seja, por uma vez, responsável pelas escolhas que faz. Sem ser salvo.»
.
10.3.24
Meio país ignorado
«As escolhas que hoje decidirão o futuro do país serão tomadas essencialmente por quatro distritos e estarão fortemente inclinadas para a faixa litoral. É nela que se concentram 175 dos eleitos, ficando a faixa interior (nela incluída o distrito de Santarém) com apenas 40. Todos sabemos que Lisboa e Porto absorvem 88 dos 230 lugares do hemiciclo, mas não sei se habitualmente nos lembramos que também distritos como Setúbal e Braga (19 deputados cada) elegem, sozinhos, mais representantes do que os seis distritos do interior raiano (somados, valem apenas 18).
Dir-se-á, e é verdade, que esta distribuição espelha a realidade de um país demograficamente assimétrico. Como mostraram os Censos 2021, um quinto da população está concentrada nos sete maiores municípios, que abrangem uma área correspondente a apenas 1,1% do território nacional.
Não é aceitável, ainda assim, que se ache adequada uma forma de representação que vai alimentando um círculo vicioso. Enfraquecido, o interior fica cada vez mais despovoado e vai perdendo os seus representantes. Sub-representado politicamente, continua a ver enfraquecida a sua voz e capacidade de influenciar decisões que contribuam para inverter o estado de coisas.
Há outras consequências desta forma de representação. Além do risco de os programas políticos falarem sobretudo para os principais círculos eleitorais, deixando de fora uma fatia considerável da população portuguesa, acentua-se o afastamento de muitos cidadãos das urnas, sentindo que as suas escolhas não têm efeito prático. Em 2022, foi o que aconteceu a mais de metade dos votos em Portalegre, que elege apenas dois deputados.
Quando amanhã o país acordar a debater questões de governabilidade e desafios imediatos resultantes das eleições, este problema será provavelmente ignorado. Como tem sido ignorada uma grande parte do país que não dá votos. Cabe ao futuro Parlamento refletir, a sério, se nele cabe todo o território que lhe compete representar.»
.
Subscrever:
Comentários (Atom)









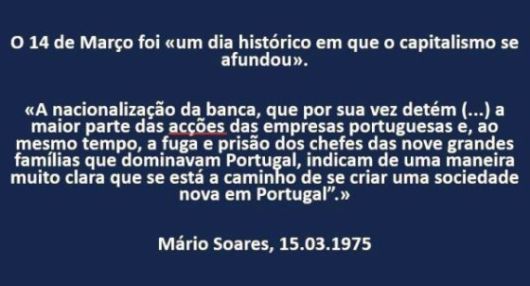





.jpg)














